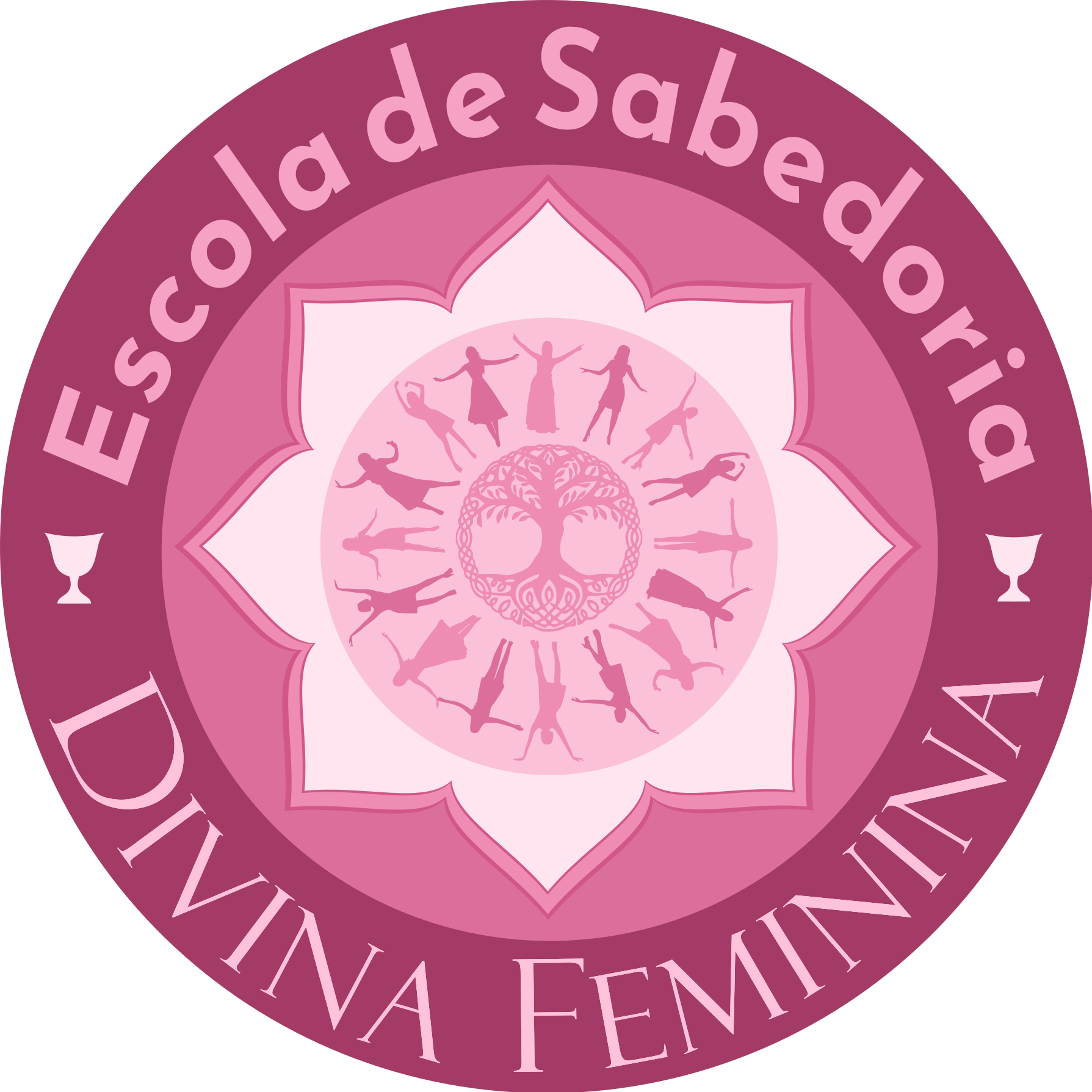Cópia do texto da Pedra de Paraíba enviado em 1872.

Inscrição da Pedra Lavrada, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, por Francisco Soares Retumba.

Parte da interpretação de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos da inscrição da Pedra Lavrada (Jardim do Seridó).

Inscrição registrada por Jean-Baptiste Debret no Rochedo dos Arvoredos, Ilhas do Arvoredo, Santa Catarina.[1]

Teoria da presença de fenícios no Brasil, ou Fenícios no Brasil, é uma designação para uma teoria, levantada por diversos autores, de que o Brasil foi visitado pelos fenícios na antiguidade, havendo registro em inscrições e artefatos. São apontadas por alguns autores semelhanças entre as línguas indígenas do Brasil e da América e as línguas semitas. Outro argumento apontado é a semelhança de tradições indígenas brasileiras, e.g. a mitologia tupi-guarani, com as mediterrâneas. Alguns dos principais proponentes desta teoria são Ludwig Schwennhagen eBernardo de Azevedo da Silva Ramos.
A hipótese de que a América teria sido povoada por fenícios foi proposta por Robertus Comtaeus Nortmannus em 1644 e Georg Horn em 1652.[2][3]
Embasamento
Schwennhagen cita em sua obra sobre a história antiga do Brasil, em que expõe uma Teoria da presença de fenícios no Brasil, o trabalho de Onfroy de Thoron (publicado em 1869 em Gênova), que trata de viagens das frotas do rei Hirão de Tiro, da Fenícia, e do rei Salomão, da Judeia, no Rio Amazonas, nos anos de 993 a 960 a.C.. A obra de Silva Ramos contém letreiros e inscrições do Brasil e da América, que são comparados com inscrições semelhantes dos países do velho mundo, observando-se homogeneidade na escrita. Também Ludwig Schwennhagen baseia-se em letreiros e inscrições como evidência em seu trabalho, afirmando serem em maior parte escritos com letras doalfabeto fenício e da escrita demótica do Egito, havendo também inscrições com letras da escrita sumérica, antiga escrita babilônica, e diz que encontram-se também letras gregas e mesmo latinas.
Schwennhagen cita Diodoro Sículo, História Universal, Livro 5º, Cap.s 19 e 20 ([1], texto em inglês) como o relato da primeira viagem de uma frota de fenícios que atravessou o Atlântico e chegou às costas do Nordeste do Brasil. Os fenícios usariam as correntes marítimas que são propícias para a travessia.
Schwennhagen diz que a língua tupi pertence à grande família das línguas pelasgas, sendo um ramo da língua suméria.
Cf. Schwennhagen, as sete tribos da nação tupi residiam em um país chamado Caraíba, um grande pedaço de terra firme localizado onde hoje fica o mar das Caraíbas, para onde tinham ido refugiando-se da desmoronada Atlântida. Chamaram-se Caris e eram ligados aos povos cários, da Cária, no mediterrâneo. Schwennhagen cita Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, História Brasileira, para confirmar a tradição de uma migração dos Caris-Tupis de Caraiba para o norte do continente sul-americano, tradição que sobrevive ou sobrevivia ainda entre o povo indígena da Venezuela. Cita ainda o padre Antonio Vieira, que afirma que os tupinambás e tabajaras contaram-lhe que os povos tupis migraram para o Norte do Brasil pelo mar, vindos de um país não mais existente. O país Caraíba teria desaparecido progressivamente, afundando no mar, e os tupis salvaram-se rumando para o continente. Os tabajaras diziam-se o povo mais antigo do Brasil, e se chamavam por isso “tupinambás”, homens da legítima raça tupi, pagando o desprezo de parte dos outros tupis, com o insulto “tupiniquim” e “tupinambarana”, tupis de segunda classe. Sempre se conservou a tradição de que os tupis tinham sete tribos, segundo o autor. Diferencia também o povo tapuia do povo tupi, dizendo serem os tapuias indígenas brasileiros.
Cf. Schwennhagen, o continente americano é a lendária ilha das Sete Cidades. Diz o autor que tupi significa “filho ou crente de Tupã”. A religião tupi teria aparecido no Norte do Brasil ca. 1050-1000 a.C., juntamente com os fenícios, propagada por sacerdotes cários, da ordem dos piagas. Os piagas (de onde deriva pajés) fundaram no Norte do Brasil um centro nacional dos povos tupis, denominando Piaguia a esse lugar, de onde formou-se o nome Piauí. Esse lugar era as Sete Cidades (hoje Parque Nacional de Sete Cidades). A Gruta de Ubajara teria sido obra de escavações para retirada de salitre que era comercializado pelos fenícios. A cidade de Tutóia no Maranhão seria fundada por navegadores fenícios e os emigrantes da Ásia Menor que chegavam em navios fenícios, que escolheram o local para construir uma praça forte, de onde dominariam a foz do rio Parnaíba.
Inscrição de Pouso Alto às margens do Paraíba
No dia 13 de setembro de 1872 o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil foi notificado do encontro em “Pouso Alto, às margens do Paraíba”, por Joaquim Alves da Costa, de inscrições gravadas em uma pedra. Uma transcrição da inscrição foi enviada ao IHGB. Despertaram grande interesse no Brasil, sendo estudadas primeiramente por Ladislau de Souza Mello Netto, que fez uma primeira tradução. Diante de críticas e da dificuldade em encontrar Joaquim Alves da Costa, a localidade exata e a pedra, Ladislau Netto declarou em um momento mais tarde serem apócrifas as inscrições. O francês Ernest Renan afirmou serem as inscrições fenícias, de idade de ca. 3000 anos.
Quase um século depois, nos anos 1960, nos EUA, o prof. Cyrus H. Gordon, da Universidade Brandeis, em Boston, reconhecida autoridade em línguas mediterrâneas, confirmou serem inscrições fenícias e as traduziu (Cyrus H. Gordon é outro reconhecido proponente desta Teoria da presença de fenícios no Brasil). Gordon era de opinião que a inscrição continha elementos de estilo fenício que eram desconhecidos no século XIX e concluiu que era genuína.[4][5]Seu texto em português é:
Somos filhos de Canaã, de Sidon, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano de 19 de Hirão, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no mar Vermelho, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar juntos por dois anos, em volta da terra pertencente a Ham (África), mas fomos separados por uma tempestade, nos afastamos de nossos companheiros e, assim, aportamos aqui, 12 homens e 3 mulheres. Numa nova praia que eu, o almirante, controlo. Mas auspiciosamente passam os exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor.
Cf. Langer 2001,
Os debates e a polêmica em torno dessa inscrição persistem até hoje, a exemplo da pedra de Kensington (EUA, descoberta ao final do séc. XIX). Desde 1872, a maioria dos estudos epigráficos apontam a inscrição da Paraíba como fraudolenta: S. Euting (1873-74), M. Schlottmann (1874), J. Friedrich (1968), F. M. Cross Jrs. (1968), O. Eissfeldt (1970), Hartmut Schmokel (1970). Quatro epigrafistas defenderam sua autenticidade: Cyrus Gordon (1967), L. Deleat (1969), Lienhard Oelekat (1968), Alb van den Branden (1968). As duas maiores autoridades em feniciologia do Oitocentos, Ernest Renan e J. Bargés, ao que sabemos, omitiram-se de qualquer opinião. Outro estudioso, Jacob Prag (1874), discordou da análise de S. Euting, mas também não elaborou maiores comentários.
Langer escreve que “O realizador do documento conhecia muito bem os membros do Instituto, pois endereçou a carta para seu presidente, o Marquês de Sapucaí.”
Inscrição da “Pedra-lavrada na província da Parahiba”, em Jardim do Seridó, RN
A interpretação de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos para a inscrição de “Pedra-lavrada na província da Parahiba”, registrada por Francisco Pinto (1864) e Francisco Soares Retumba (1886), que Ludwig Schwennhagen demonstrou localizar-se em Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, na margem do rio Seridó, e que Silva Ramos considera de origem grega, é “700 / Signos / Capricórnio / Pégaso / Peixe / Carneiro / Touro / Dióscros / Caranguejo / Leão / Virgem / Balança / Escorpião / Sagitário / Vênus / Serpentuário / Hidra / Serpente / Cisne / Staurus / Iléias / Hyades / Centauro / Baleia / Orion / Ursa Maior / Ursa Menor / Boeiro / Coroa (boreal) / Hércules / Lira / Eridano / Perseu / Águia / Cão Pequeno / Molossos / Lebre / Delfim / Cérbero / Lobo / Íris/Flecha / Triângulo / Júpiter / Marte / Luz / Sol / Saturno / Mercúrio / Terra / Cocheiro / Taça / Corvo / Navio / Altar /”.[6][7]
Oposição
Ilustração de “Illustrerad verldshistoria utgifven av E. Wallis. volume I”: Navio fenício.


Navio de guerra assírio 700-692 a.C. de Nineveh, Palácio Sudoeste, Sala VII, painel 11; provavelmente construído e comandado por fenícios empregados por Senaquerib.
Navio fenício gravado em um sarcófago, século II d.C..

Navios fenícios (hippoi), relevo do palácio de Sargão II da Assíria em Dur-Sharrukin (hoje Khorsabad). Louvre.

Restos originais do barco fenício Mazarron I s. VII a.C., Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) em Cartagena (Espanha).

Especula-se que a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro seja uma esfinge fenícia.

Inscrição da Pedra do Ingá, Ingá, Paraíba.

Outros proponentes
Outros proponentes desta teoria ou variações são:[8]
- Frederic Ward Putnam (1839-1915), naturalista e antropologista estadunidense
- Zelia M. M. Nuttall (1857-1933), arqueologista e antropologista estadunidense
- Barry Fell (Howard Barraclough Fell) (1917-1994), professor de zoologia invertebrada no Harvard Museum of Comparative Zoology. Fell é mais conhecido por seu trabalho controverso em epigrafia do Novo Mundo.[9]
Bibliografia
- Schwennhagen, Ludwig. Antiga História do Brasil. De 1100 a.C. a 1500 d.C.. Imprensa official, 1928. (ficha em Livros Google)
- Silva Ramos, Bernardo de Azevedo da. Inscripcões e tradiçoes da America prehistorica, especialmente do Brasil. [Dr.]: (Impr. nac.), 1932. (ficha em Livros Google)
- Medeiros Filho, Olavo de. Os Fenícios do Professor Chovenagua. Edição Especial Para o Projeto Acervo Virtual Oswaldo Lamartine de Faria. www.colecaomossoroense.org.br . (em linha)
- Silva, Guilherme Dias da. Traços da Antiguidade na Selva: Uma Leitura das “Inscripções e Tradições da America Prehistorica” de Bernardo Ramos. X Encontro Estadual de História. anpuhrs. 2010. (em linha)
- Araripe, Tristão de Alencar. Cidades petrificadas e inscripções lapidares no Brazil. Em: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Tomo L, Parte Primeira, 1887. (em linha, conteúdo, PDF, 30MB)
- Langer, Johnni. Ruínas e Mitos: A Arqueologia no Brasil Imperial. Tese de Doutorado apresentada ao programa de pós-graduação em História da UFPR. Curitiba, 2001. (em linha)
- Spencer, Walner Barros. O patrimônio cultural desconsiderado: o Lajeado de Soledade. Em: Mneme – revista de humanidades. Dossiê Arqueologias Brasileiras, v.6, n. 13, dez.2004/jan.2005. Disponível em http://www.seol.com.br/mneme . (em linha em www.cerescaico.ufrn.br)
- Thoron, Henrique Onffroy (Dom). Antiguidade da navegação do oceano. Viagens dos navios de Salomão ao rio das amazonas. Belém: Instituto Lauro Sodré, 1905 – . Biblioteca Virtual do Amazonas. (em linha)
- Thoron, Henrique Onfroy de (vicomte). Voyages des flottes de Salomon et d’Hiram en Amérique. Position géographique de Parvaïm, Ophir et Tarschisch; par le vicomte Onfroy de Thoron. ln-4° à 2 col., 23 p. Paris, imp. Towne. ([2])
- Ladislau Netto. Lettre a Monsieur Ernest Renan a propos de l’inscrioption Phenicienne apocryphe soumise en 1872 a l’Institut historique, geographique et ethnograpicque du Bresil. Rio de Janeiro, Lombarts et Comp 1885. (Em linha em: Biblioteca Digital do Museu Nacional, UFRJ, 4MB)
- Costa, Candido. O descobrimento da America e do Brazil. Trabalho historico, de accordo com as observações modernas, em que tambem se demonstra a origem dos povos americanos. Pará, Brazil, Typ. da Papelaria Americana. 1896. (em linha em www.archive.org).
- Comtaeus Nortmannus, Robertus. De origine gentium Americanarum dissertatio, Amsterdam, 1644. (ficha em Livros Google)
- Horn, Georg. De originibus americanis. 1652. (eLivro Google)
Referências bibliográficas
- Schwennhagen, Ludwig. Antiga História do Brasil. De 1100 a.C. a 1500 d.C.. Quarta edição. Apresentação e notas de Moacir C. Lopes. Livraria Editora Cátedra, Rio de Janeiro 1986.
Ligações externas
- Barros, Eneas, A tese de Ludwig Schwennhagen. Piaui.com.br – acessado em 11 de outubro de 2011
- Fenícios no Brasil – Embaixada do Líbano no Brasil. Extraído do livro “Líbano – Guia Turístico e Cultural” de Roberto Khatlab – acessado em 13 de outubro de 2011
- (em inglês) Khalaf, Salim George. Phoenicia, Phoenicians in Brazil. phoenicia.org . – acessado em 13 de outubro de 2011
Referências
- ↑ (em inglês) Whittall, Austin, Phoenician inscriptions at Rochedo dos Arvoredos, patagoniamonsters.blogspot.com .
- ↑ (em inglês) Wright, Herbert F., Origin of American Aborigines: A Famous Controversy. The Catholic Historical Review Vol. 3 No. 3 (Oct. 1917), pp257‑275. penelope.uchicago.edu .
- ↑ Costa, Candido. O descobrimento da America e do Brazil. Trabalho historico, de accordo com as observações modernas, em que tambem se demonstra a origem dos povos americanos. Pará, Brazil, Typ. da Papelaria Americana. 1896. (em linha em www.archive.org). p. 43.
- ↑ (em inglês) Whittall, Austin, The “Phoenician” inscriptions from Paraiba, Brazil. patagoniamonsters.blogspot.com .
- ↑ (em inglês) The Paraíba (Parahyba) Stone. www.badarchaeology.com .
- ↑ Medeiros Filho, Olavo de. Os Fenícios do Professor Chovenagua. Edição Especial Para o Projeto Acervo Virtual Oswaldo Lamartine de Faria. www.colecaomossoroense.org.br . (em linha)
- ↑ Silva Ramos, Bernardo de Azevedo da. Inscripcões e tradiçoes da America prehistorica, especialmente do Brasil. [Dr.]: (Impr. nac.), 1932. (ficha em Livros Google)
- ↑ Mattos, Aníbal. A raça de Lagôa Santa: velhos e novos estudos sobre o homem fóssil americano. Co. Ed. Nacional, 1941. P. 23.
- ↑ Artigo “Barry Fell” na Wikipédia em inglês
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
……………………………
Brasil Pré-Colombiano
500 (mil) Anos de Brasil!
Bloco com gravuras fenícias no Rio Urubú (Macuará)
O país das terras brasis comemora os 500 anos do Descobrimento. Entretanto, se levarmos em consideração a História que se esconde por detrás da História, teremos que acrescentar, pelo menos, três zeros à direita das cinco centenas tão festejadas.
Não nos admiraremos se o leitor considerar, a priori, a assertiva acima, como produto do exagero e do sonho.
Procuraremos, pois, demonstrar, utilizando-nos do precioso cinzel da livre investigação e das informações provindas da Ciência Iniciática das Idades, a veracidade dos fatos.
Para ousar afirmar antigüidade tão extrema da civilização brasileira, torna-se indispensável a aceitação, como verdade incontestável, como veremos ao longo deste trabalho, a existência do tão negado quão famoso continente
perdido da Atlântida, pedra-de-toque para um sem número de enigmas nas mais variadas ciências, como a Antropologia, a Arqueologia, a Botânica, a Zoologia, e muitas outras.
Situado, em sua conformação tardia, no espaço hoje ocupado pelo oceano que leva o seu nome, estendendo-se, em grande parte para Oeste, representa a Atlântida o ponto de união, latu sensu, entre o Velho e o Novo Mundo, como também o berço das civilizações, umas extremamente adiantadas, outras caídas na barbárie e no selvagismo, que apareceram após a sua decadência e queda.
Como atesta o documento que faz parte da famosa Coleção Plongeon (manuscrito troano), existente no Museu Britânico, em Londres:
“No ano 6 de Kan, o 11 de Muluk, mês de Zac, ocorreram horríveis terremotos que continuaram sem interrupção, até o 13 Chuan. O país das lamas de barro, a terra de Mú foi sacrificada. Depois de duas tremendas convulsões, ela desapareceu durante a noite, sendo constantemente sacudida pelos fogos subterrâneos que fizeram com que a mesma tivesse tão trágico destino. Por fim, a superfície cedeu. Dez países separaram-se e desapareceram, levando consigo 64 milhões de habitantes. Isso aconteceu oito mil anos antes de ser feito o presente manuscrito.”
Em realidade, as expressões “ocorreram horríveis terremotos que continuaram sem interrupção” e “ela desapareceu durante a noite” devem ser interpretadas do ponto de vista simbólico, pois, como nos ensina a Ciência Iniciática, foram quatro os grandes cataclismos, espaçados entre si por muitas centenas de anos, que destruíram a grande civilização atlante.
O último deles, ocorrido aproximadamente 10.000 anos antes da época de Platão, submergiu a última terra remanescente do grande continente de antanho, a Ilha de Poseidon, fato conhecido na época do eminente Filósofo Iniciado, que narrou o acontecido em seu diálogo “Timeu e Crítias”.
À medida que as catástrofes iam se sucedendo, submergindo áreas inteiras do continente atlante, os povos remanescentes iam migrando em todas as direções. Aqueles que apresentavam um estado de consciência mais elevado e que não se imiscuíram na baixa magia e nos terríveis crimes perpetrados pelos povos revoltados que instalaram a desordem sob a égide dos perversos Rackshasas, seres híbridos provindos da Raça anterior, a Lemuriana, foram conduzidos por um enviado dos Céus, um Manú, chamado Vaisvásvata, para o Planalto do Pamir, no Norte da antiga Aryavartha, atual Índia. Os demais povos atlantes foram se dispersando nas terras que restaram da submersão. Isso aconteceu, segundo a cronologia esotérica, cerca de 850 mil a 1 milhão de anos atrás.
Durante oitocentos milênios, estes povos, egressos da Atlântida, foram se estabelecendo em vários pontos da terra, vindo a formar, muito mais tarde, os proto-incas, as civilizações da América Central e a grande civilização egípcia. Outros grupamentos humanos, isolados durante tão longo período, foram se degradando e caindo em estado de selvagismo, embora preservando em suas tradições e ritos o eco longínquo da imensa Sabedoria do apogeu da civilização atlante, que ultrapassara em muito, em vários setores do conhecimento, principalmente o tecnológico, o de nossa época atual. Estes últimos grupos são o que conhecemos como indígenas.
O Brasil, ao que parece, na totalidade de seu território atual, não sofreu os efeitos dos cataclismos atlantes.
Habitamos, portanto, um país positivamente atlante, uma terra extremamente antiga e sedimentada, o que explica a inexistência de sismos e outros fenômenos.
Presumimos que o leitor já comece a compreender o porquê dos três zeros à direita dos 500 anos…
Consideramos que dentro do período aludido de 800 milênios, em que se processou a imigração e a formação das futuras linhas civilizatórias pós-atlantes, a cifra de 500 mil anos atrás se ajusta razoavelmente bem em relação ao aparecimento dos primeiros habitantes, hoje desconhecidos, que se fixaram nas terras referentes ao Brasil.
E os milênios foram se passando… até que por volta de pouco mais de um milênio antes do ano zero da convenção atual, nosso país começou a ser visitado por vários povos do Velho Mundo, povos que deixaram marcas indeléveis praticamente em todas as partes de nossa Terra.
A Revista Vidhya-Virtual, em número 2, é dedicada, não só ao Jina Cabral, re-descobridor das privilegiadas terras brasílicas, mas também a todos os navegantes dos Sete Mares, que aqui aportaram muito antes, deixando suas
marcas em todas as partes de nossa terra, marcas que parecem invisíveis aos doutos entronizados das academias oficiais, mas que estão muito claras para aqueles que, sem preconceitos, são motivados unicamente pelo inalienável esforço da busca pela Verdade, para os quais se tornam um manancial inesgotável de Sabedoria.
CAPÍTULO I – O ESTUDO DA HISTÓRIA DO ANTIGO BRASIL
O Brasil possui uma extensa literatura sobre sua “pré-história”; os autores dessas obras chamam-se também “indianistas”, devido aos seus estudos sobre as línguas e dialetos dos antigos habitantes deste continente. São trabalhos de alto interesse e grande valor, como os de Couto Magalhães, do pernambucano Alfredo Carvalho, cuja morteprematura foi lamentável, assim como de muitos outros. Mas, essas obras não tratam de história, não procuram as datas cronológicas para os acontecimentos que descrevem. Por isso elas não encontram o nexo das coisas, que é o fio condutório no desenvolvimento dos povos do nosso planeta.
É muito interessante raciocinar que o planalto de Goiás foi o primeiro ponto seguro da crosta terrestre; dizer que a raça tapuia nasceu autóctone no Brasil, há 50 milênios, ou calcular que a Atlântida foi antigamente ligada com o Brasil e ficou afundada entre 90 mil a 9 anos antes de Cristo. Essas são lendas paleológicas, com as quais não pode contar a historiografia.
O estudo da antiga história brasileira começou no Norte. Em 1876, apresentou Onfroy Thoron, em Manaus, seu excelente tratado sobre as viagens das frotas do rei Hiran de Tiro, da Fenícia, e do Rei Salomão, da Judéia, no rio Amazonas, nos anos 993 a 960 antes de Cristo .
1[1] O sucessor de Thoron em Manaus é Bernardo Ramos
2[2], um legítimo amazonense, com traços característicos da descendência tapuia, também com a inata modéstia dessa antiga raça brasileira. Bernardo Ramos é hoje o primeiro paleógrafo do Brasil, um Rui Barbosa no terreno das ciências arqueológicas. Sua obra é o produto de um trabalho assíduo, de 30 anos; são quatro grandes volumes, com as cópias de 3.000 letreiros e inscrições, a metade do Brasil e de outros países americanos, a outra parte dos países dos três velhos continentes. O autor compara sempre as inscrições americanas com inscrições semelhantes dos países do velho mundo, para provar a homogeneidade da escrita. Bernardo Ramos foi primeiro numismático e vendeu algumas coleções de moedas, com bom lucro. Esse dinheiro, ele o aproveitou em fazer viagens longínquas às três Américas, visitou também Europa, Egito e Babilônia, para estudar, em todos esses países, as antigas inscrições.
A obra de Bernardo Ramos ainda não está impressa (1928). O autor apresentou o seu manuscrito, com todas as fotografias e desenhos anexos, sucessivamente aos presidentes Drs. Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, que examinaram minuciosamente a obra e prometeram providenciar sobre a impressão de trabalho tão valioso. É de esperar que dificuldades não se sobreponham à publicação de tão erudito e importante trabalho.
Cândido Costa, o grande historiador-colecionador do Pará, mandou publicar o seu magnífico livro As Duas Américas, prudentemente, em Portugal. Esse livro vale para o Brasil como uma biblioteca de história universal nas faculdades de letras do Sul do Brasil. Seu livro é farto em notícias importantes sobre o antigo Brasil, obrigando o leitor a pensar e iniciar novos estudos. Apreciável e coerente é, por exemplo, a crítica do autor a respeito do chamado Santuário da Lapa, em Pernambuco, de que afirma: “Se ficar provado que esse antigo templo é obra humana, provada será também a existência da civilização pré-histórica do Brasil”. Isso é claro e inegável. O autor deste tratado pesquisou, no interior de Pernambuco, aquele importante edifício pré-histórico. No respectivo capítulo serão explicados todos os pormenores desse testemunho da antiga civilização e da clarividência histórica de Cândido Costa.
No Maranhão formou-se, em redor da simpática figura do jovem professor Ruben Almeida, um novo centro de estudos históricos, para indagar do passado maranhense e restabelecer a antiga fama da “Atenas Brasileira”.
No Piauí, o interesse pela história antiga do Estado faz parte do seu patrimônio intelectual. Desde o erudito Governador do Estado, que favorece generosamente todos os estudos científicos piauienses, até o novíssimo aluno do Liceu ou da Escola Normal, existe em todos o mesmo interesse pela história da antiga pátria dos Tabajaras.
3[3]
O Ceará é um notável centro de inteligência e energia intelectual, onde se estuda, com alto interesse, as coisas históricas. Na primeira fileira estão as figuras proeminentes do senador Thomaz Pompeu e do Barão de Studart, que exortam pelo seu trabalho infatigável seus contemporâneos, assim como a geração jovem, para se dedicarem a novos estudos. Mesmo nas cidades menores, como Camocim, Sobral, Quixadá, Baturité e muitas outras, existem centros intelectuais, onde se trabalha e estuda a história e a pré-história da terra cearense.
4[4]
2[2] Bernardo da Silva Ramos, Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica.
3[3] Odilon Nunes, o notável historiador piauiense, dedica algumas páginas ao assunto tratado nesta obra,
referindo-se a ela e às opiniões emitidas por Ludwig Schwennhagen, na sua Pesquisas para a História do Piauí, Vol. I, Imprensa Oficial do Estado do Piauí, 1966.
4[4] Também Gustavo Barroso dedicou-se a esses estudos em Aquém da Atlântida.
Nos quatro menores Estados do Nordeste encontrou sempre o autor deste opúsculo um forte interesse pelos estudos da antigüidade brasileira. Os presidentes dos Estados facilitaram as suas indagações em toda parte; os Institutos Históricos forneceram-lhe indicações importantes sobre todos os pontos da história. Esses institutos já possuem pequenas coleções de cópias de letreiros antigos, provenientes do interior desses Estados. Também particulares se ocupam com o estudo das inscrições. Em Acari, no Rio Grande do Norte, encontramos um agricultor e desenhista, José Azevedo, que nas suas horas livres copiou os letreiros da região, com muito cuidado, e compilou um interessante quadro de letras do antigo “alfabeto brasílico”, sobre que falaremos adiante.
Em Bananeiras, na Paraíba, surpreendeu-nos o filósofo-químico José Fábio com um grande quadro de letreiros, apanhados nos rochedos da Serra dos Cariris Velhos. Havia tirado também pequenas quantidades da tinta encarnada, com a qual são sobrepintadas as linhas cravadas nas pedras. O exame químico dessa tinta revelou a mistura de óxido de ferro com um elemento gomoso vegetal, que os antigos químicos fabricavam com tanta felicidade e que resistiu, com sua cor viva, ao sol e à chuva, durante dois milênios. Em Picuí, na Paraíba, conseguimos obter, no Paço Municipal, do comerciante José Garcia e de outro senhor, cópias de inscrições que existem na vizinhança daquela cidade, com indicações exatas dos respectivos lugares. Muito grande é também o número dos prefeitos que nos deram minuciosas informações sobre os letreiros que existem nos seus municípios.
5[5]
Esses fatos constataremos oportunamente perante a crítica dos incrédulos, que reclamam cópias fotográficas dos letreiros e certificados elucidativos sobre a veracidade de tais comunicações. É-lhes fácil tal crítica, a eles que nunca andaram mesmo nos sertões e nunca viram um só letreiro com seus próprios olhos. Petróglifos que existem em rochedos há 2000 a 2500, não é possível fotografá-los. Ficam cuidadosamente desenhados; verifica-se com os dedos, com boa lente, as linhas meio gastas, tiram-se com faca as crostas sobrepostas e reconstrói-se, com critério, o conjunto da antiga escrita.
6[6]
5[5] “Contudo, as inscrições lapidares que se encontram em penhascos e grutas, por muitas partes do Brasil, especialmente no Nordeste e na Amazônia, quando não esculpidas, são desenhadas com tintas que, pelo frescor e nuanças que ainda guardam, levam a crer foram feitas com alguma substância mineral que as torna quase indeléveis. Foram traçadas por artífice de uma civilização que havia ultrapassado a idade da pedra, e que já se utilizava de metais e se tornara capaz de elaborar uma composição química. Os índios contemporâneos da conquista atribuíam tais pictografias a seus avoengos mais remotos, enquanto pesquisadores modernos presumem que foram deixadas por povoadores doutra casta de gentios que antecedeu as dos gentios da época do Descobrimento, ou mesmo pertencentes a alguma civilização que floresceu no continente oriental. Uns aceitam-nas como simples passatempo de seus autores, outros, como propósito comunicativo e até mesmo descritivo, aqui deixadas por tribo nômade ou povo errante ainda não identificado. Ainda outros pretendem elucidar as dúvidas e afirmam que foram gravadas pelos fenícios, há cerca de 2500 anos. Os argumentos em torno da teses histórica, com referência aos fenícios, são por vezes pueris, outros repousam, entretanto, em critério científico e, pela complexidade do assunto, abrangem toda a área cultural dos primitivos americanos”. –
Odilon Nunes, Obra cit. pg. 24/25.
6[6] Em página anterior, refere-se o autor a Bernardo da Silva Ramos, em cuja obra, então inédita, apareciam cópias de quase 3.000 letreiros, e formulava Schwennhagen esperanças de que fosse publicada, dada a sua
importância. Foi essa excepcional obra de Ramos editada no Rio de Janeiro, em 1930, pela Imprensa Oficial.
Consta de dois volumes, num total de mais de mil páginas, com cópias de cerca de 3.000 inscrições, encontradas no Brasil e outros países. Numa das primeiras páginas consta o seguinte Parecer, conferido pelo Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas:
“A Comissão de Arqueologia, examinando o trabalho apresentado pelo Coronel Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, sobre “Inscrições e Tradições do Brasil Pré-Histórico”, considerando:
· que, isolados, os símbolos das inscrições exibidas correspondem eles a caracteres de alfabetos fenício, grego, paleográfico, grego de inscrição, hebraico, árabe e chinês;
· que a coordenada dos caracteres forma palavras;
· que a sucessão de palavras, assim representadas, forma sentido;
· que a autenticidade das inscrições é assegurada, ora por fotografias, ora pela autoridade das obras de onde foram extraídas;
· que as tradições referidas no trabalho estão vulgarizadas por autores cuja competência não se pode contestar;
· que os desenhos da cerâmica, representada nesse trabalho, correspondem ao estilo grego;
· que esses desenhos, pela sua precisão e simetria, jamais poderiam ser feitos pela tribos indígenas existentes
no Brasil por ocasião de sua descoberta;
· que aquelas inscrições foram indubitavelmente produzidas por mão humana e hábil; resolve julgar o aludido trabalho digno de ser aprovado e aceitas as suas respectivas teorias e conclusões.
Manaus, 4 de maio de 1919
O engenheiro francês Apollinário Frot, que viveu 30 anos no interior da Bahia e juntou ali cerca de cem cópias de inscrições e letreiros, constatou que todos esses petróglifos são documentos da antiga mineração. Encontrou a chave dos sinasi, compreendeu as medidas das distâncias e o sistema das antigas estradas de penetração. Finalmente, descobriu o Sr. Frot que há 300 anos antes o português Roberto Dias tinha encontrado e compreendido o significado desses letreiros, que lhe haviam indicado o lugar das ricas minas de prata, na bacia do alto São Francisco. 7[7]
Está largamente provado que existiu, no primeiro milênio antes da era cristã, uma época de civilização brasileira. Já conhecemos dois mil letreiros e inscrições espalhados sobre todo o território brasileiro e escritos nas pedras com
instrumentos de ferro ou de bronze, ou com tintas indeléveis, quimicamente preparadas.
Essas inscrições petroglíficas foram feitas por homens que sabiam escrever e usaram os alfabetos dos povos civilizados do Mar Mediterrâneo. Já provado também se acha que existiu uma navegação transatlântica entre esses povos e o continente brasileiro, durante muitos séculos antes de Cristo.
A maior parte dos letreiros brasílicos são escritos com letras do alfabeto fenício e da escrita demótica do Egito. Existem também inscrições com letrs da antiga escrita babilônica, chamada sumérica. Além disso, temos letreiros escritos com hieróglifos egípcios, e podemos diferenciar, em outros lugares, variantes de letras que se encontram nas inscrições da ilha de Creta, da Cária, da Etrúria e Ibéria. Encontram-se também letras gregas e mesmo latinas.
Os sábios especialistas que se dedicam só ao estudo da petroglífia compreenderão mal esse “caos” da antiga escrita brasileira. O historiador tira suas conclusões numa outra base. O estudo da história começa com a cronologia.
Primeiro se indaga a data histórica de um acontecimento, ou de uma inscrição. No caso de ser impossível encontrar o ano, procura-se a década; se essa também é incerta, define-se o século no qual se deu o acontecimento.
As navegações dos fenícios começaram 2500 anos a.C., mas limitaram-se, durante muitos séculos, ao mar Mediterrâneo. O estreito de Gibraltar foi dominado pelo império dos Atlantes, cuja capital foi Gades; a dinastia de Atlas reinou em ambos os lados do estreito cerca de 500 anos. Fora do estreito, nas costas e ilhas atlânticas dominaram os Tartéssios, cuja capital era Tartessos (ou Tarsos, na foz do rio Ton Tarsis) Guadiana. As frotas dos Tartéssios andaram, como disse o psalmista hebraico Davi, em todos os lugares, e sua capital possuía riquezas iguais às riquezas da Babilônia. Esses antecessores dos Portugueses já navegavam entre a Península Ibérica e América Central 1500 anos antes da era cristã. É provável que os Tartéssios navegassem também nas costas do Brasil.
Os Atlantes, bem como os Tartéssios, foram sobreviventes e refugiados da Atlântida, cujo último desmoronamento devemos colocar na época de 2000 a 1800 a.C. Os Atlantes, que se domiciliaram em Marrocos e no sul da Ibéria, tornaram-se um povo conquistador. Platão conta que eles quiseram subjugar todos os povos do Mediterrâneo e apareceram também com grandes exércitos na Grécia, mas sofreram uma derrota perto de Atenas. No Peloponeso, um filho do rei Atlas fundou um reinado, e a filha Maia casou com outro rei da mesma península, que era aliado dos Atlantes. Cerca de 1300 a.C. foi destruído o império dos Atlantes pela dinastia ibérica dos Geriões, que fundaram um poderoso império nacional na península, com a capital Carteja.
Os tartéssios se abstiveram de qualquer ingerência nas lutas continentais e limitaram-se ao seu império marítimo. Os fenícios aproveitaram-se da queda do império dos atlantes e procuraram uma aliança com os geriões, bem como uma amizade e aliança comercial com os tartéssios. Ambos concordaram que os fenícios estabelecessem uma estação marítima em Gades e que suas frotas mercantes pudessem passar o estreito, para navegarem nas costas atlânticas. Isso foi cerca do ano 1200 a.C., quando já a cidade de Tiro (ou Turo) tinha alcançado a hegemonia sobre todas as cidades e colônias fenícias. Em 1100 a.C. chegou a primeira frota dos fenícios às costas do Nordeste do Brasil, e em 1008 a.C. entrou o rei Hirã de Tiro numa aliança com o rei Davi, da Judéia, para explorarem comumente a Amazônia brasileira.
O rei-psalmista conta esse acontecimento com as seguintes palavras:
(a)
João Baptista de Farias e Souza
Nicolau Tolentino
José da Costa Teixeira”
7[7] Alexandre Braghine, em sua obra O Enigma da Atlântida, Irmãos Pongetti Editores, 1959, tradução de Marina Bastian Pinto, do original The Shadow of Atlantis, também se refere a A. Frot, à pág. 153:
“Viajando pelo norte do Brasil há uns quinze anos, tive ocasião de encontrar na Bahia um engenheiro francês, residente no país havia cinqüenta anos… Recebi mais tarde do Sr. Frot, uma carta muito interessante, que assim se pode resumir: ‘Os fenícios serviam-se, para gravar suas inscrições sul-americanas, dos mesmos métodos que os antigos egípcios usavam nos primeiros tempos para a sua escrita hieroglífica. Esses métodos eram empregados pelos astecas, como também pelos povos do Amazonas. O resultado das minhas investigações é tão surpreendente que eu hesito em publicá-lo. Para dar-lhe uma idéia, basta dizer que tenho em mãos a prova da origem dos egípcios: os antepassados desse povo saíram da América do Sul. Eles tinham criado três poderosos impérios, dos quais dois no continente que acabo de citar e um no Antigo Continente. Este englobava o noroeste da África, a península Ibérica e as ilhas vizinhas. Os pré-egípcios tinham partido de 57º 42’ 45” de Longitude Oeste de Greenwich (Frot não indicava a Latitude): o fato está mencionado em um antigo documento tolteca que possuo e o qual contém ao mesmo tempo uma história resumida dos pré-egípcios. Ainda mais, descobri na Amazônia uma inscrição que narra a viagem efetuada na terra que hoje é a Bolívia, por um certo sacerdote pré-egípcio’. A inscrição à qual alude este trecho da interessante carta de Frot é sem dúvida a que foi descoberta na bacia do rio Madeira. Este acontecimento produziu sensação naquele tempo na imprensa brasileira. A decifração do texto prova que em época remota um grupo de pré-egípcios foi ter às minas de prata da Bolívia.
“O meu Senhor encheu meu coração com prudentes conselhos. Para edificar ao Supremo um templo digno de sua glória, precisava eu de um aliado que me ajudasse com a sua riqueza. Deus me mostrou Hirã, rei daquele poderoso Tur, que ganhou tantas riquezas pela sua aliança com os tartéssios, cujas frotas andam em todos os mares”.
E num outro psalmo, disse Davi: “Quando o Supremo mandar seu delegado, o Messias, todos os reis deste mundo se submeterão ao seu império, e apresentarão tributo e ricos presentes: os reis do Egito, da Núbia, de Tartessos e das ilhas longínquas do Oceano.”
Verifica-se que Davi, o aliado dos fenícios, tinha seguro conhecimento do império marítimo dos tartéssios e sabia que os fenícios já haviam feito parte desse domínio colonial. Davi morreu em 997 a.C. e temos, nessa data histórica, um ponto seguro para o nosso cálculo cronológico da antiga história brasileira.
No capítulo seguinte será explicada a primeira viagem transatlântica dos fenícios, cerca de 1100 a.C., e contaremos a estada dos fenícios no Brasil, desde esta data. A metrópole da Fenícia, a cidade de Tiro, foi destruída por Alexandre Magno em 332 a.C.; até essa data, quer dizer, durante 769 anos, continuaram as relações marítimas e comerciais entre a Fenícia (a atual Síria) e o Brasil. As emigrações de egípcios para o Brasil, em navios dos fenícios, começaram no tempo do usurpador Chechonk, que se apoderou do trono dos faraós em 935 a.C. Essa imigração recebeu um novo impulso pela invasão dos núbios, sob o chefe Napata, em 750 a.C., que anarquizou todo o Egito. Os cartagineses participaram do domínio brasileiro dos fenícios desde 700 a.C. e ficaram ali até a destruição de Cartago pelos romanos, em 147 a.C., quer dizer, durante 533 anos.
Nessa época, que se estendeu quase sobre um milênio inteiro, foram escritos os letreiros que encontramos ainda hoje nos rochedos do interior do Brasil. Não é possível que todos eles sejam escritos pelo mesmo sistema e alfabeto. A escrita dos fenícios modificou-se, nesse grande espaço de tempo, diversas vezes. Também a escrita demótica dos egípcios não ficou sempre na mesma. Formou-se o alfabeto grego e depois apareceu o alfabeto itálico-latino. Os cartagineses foram um povo conquistador e levaram nos seus navios tripulantes e soldados de diversas nações. As inscrições brasileiras foram escritas por mercantes e mestres de obras das minas. Foram comunicações deixadas pelas diversas expedições, para indicar o rumo das estradas, as distâncias dos lugares e a situação das minas.
É muito provável que tenha desaparecido, no correr do tempo, uma grande parte dos letreiros e quase todos que foram escritos em placas soltas. Bernardo Ramos encontrou algumas placas com escritos em Atuma, no Amazonas. No Museu Goeldi, no Pará, existem alguns vasos com letras, que foram encontrados nos aterros da ilha de Marajó. Na sala do Sumé, do Castelo das Sete Cidades, no Piauí, existe ainda a chamada “biblioteca”, contendo dúzias de placas de pedras coladas pela ação atmosférica, umas em cima das outras; talvez, desligando-se essas placas por um processo químico, se poderá verificar se elas contêm escritos.
Finalmente, é de supor-se que os chefes dos povos tupis, principalmente os sacerdotes-piagas, aprenderam o modo de escrever dos estrangeiros e o preparo das tintas indeléveis. Assim começou também o costume entre os povos indígenas, de fazer desenhos artísticos e humorísticos nas paredes lisas dos rochedos, costume que se estendeu até a América do Norte. O investigador cuidadoso, porém, encontrará sem dificuldades, grande diferença entre as inscrições da escrita fenícia-egípcia e as similares petroglíficas do humorismo dos indígenas.
Capítulo II – LISTA CRONOLÓGICA DOS FATOS HISTÓRICOS, DESDE 1100 ANOS ANTES DE CRISTO ATÉ 1500 DEPOIS DE CRISTO
I – O PRIMEIRO DESCOBRIMENTO
O escritor grego Diodoro (da Sicília) dá-nos, nos capítulos 19 e 20 do 5º livro da sua História Universal, a descrição da primeira viagem duma frota de fenícios que saiu da costa da África, perto de Dacar, e atravessou o Oceano Atlântico no rumo do Sudoeste. Os navegadores fenícios encontraram as mesmas correntezas oceânicas de que se aproveitou Pedro Álvares Cabral para alcançar o continente brasileiro, e chegaram com uma viagem de “muitos dias” às costas do Nordeste do Brasil. Conforme o cálculo cronológico, dado no capítulo precedente, devemos colocar essa viagem, esse primeiro descobrimento do Brasil, na época de 1100 anos a.C. Diodoro conta a viagem da frota dos fenícios quase com as mesmas palavras com que narram os compêndios escolares brasileiros a viagem de Cabral: os navios andavam para o Sul, ao longo da costa da África, mas, subitamente, perderam a vista do continente e uma violenta tempestade levou-os ao alto mar. Ali, perseguindo as mesmas correntezas, descobriram eles uma grande ilha, com praias lindas, com rios navegáveis, com muitas serras no interior, cobertas por imensas florestas, com um clima ameno, abundante em frutas, caça e peixe, e com uma população pacífica e inteligente.
Os navegantes andaram muitos dias nas costas dessa ilha (que foi a costa brasileira entre Pernambuco e Bahia), e tendo voltado ao mar Mediterrâneo, contaram a boa nova aos Tirrênios, que eram parentes e aliados dos fenícios de Tiro. Estes resolveram logo mandar também uma expedição à mesma ilha e fundar ali uma colônia.
Para compreender essa narração de Diodoro, precisamos nos ocupar desse grande escritor. Nascido em Agrigento, cidade grega da Sicília, viveu em Roma, como contemporâneo de Cícero e Júlio César, com os quais esteve em relações amigáveis. Escreveu uma história universal em 45 livros, dos quais possuímos mais da terça parte. Era um historiador muito consciencioso, fez longas viagens, e sabia numerosas línguas. Sua obra é uma fonte inesgotável para os nossos conhecimentos da Antigüidade. Como grego, não era ele amigo dos fenícios e dos cartagineses, mas reconheceu o grande valor dessas nações de navegantes para a civilização geral dos povos. Seria uma ofensa pueril contra a historiografia pretender que Diodoro tivesse inventado aquela narração da viagem transatlântica dos fenícios.
Temos para isso uma confirmação indireta de parte do mesmo escritor. Em outro lugar fala Diodoro sobre a viagem duma frota cartaginesa na costa da África, até o golfo de Guiné. Foram 50 grandes cargueiros, chamados carpássios, com 30.000 pessoas a bordo, para o fim de fundar colônias no Sudoeste da África. Era chefe da expedição o general Hanon, que foi encarregado de estabelecer um grande domínio colonial para Cartago, no lado oriental do Oceano Atlântico, no lado oriental do Oceano Atlântico. Essa viagem foi realizada cerca de 810 a.C.; mas a expedição não obteve resultado. Diodoro enumera todas as estações da viagem e indica as distâncias geográficas, que correspondem exatamente às atuais. Os Kerneos, um povo civilizado, resquício da Atlântida desfeita, que moravam na costa do Senegal, ajudaram aos cartagineses para encontrarem lugares para a projetada colonização; mas as condições do país eram tão selvagens que ninguém quis ficar ali, e Hanon foi obrigado a voltar, com todos os navios e passageiros, à sua terra. Essa narração prova que Diodoro conhecia bem a situação da África Ocidental, do Oceano Atlântico e do golfo de Guiné, e sabia perfeitamente que a “grande ilha”, descoberta pelos fenícios, era situada no outro lado do Atlântico. A expedição de Hannon prova mais que os cartagineses, naquele tempo rivais dos fenícios do Partido de Tiro, invejavam- nos, devido ao domínio colonial que os Tírios possuíam no continente brasileiro. Por esse motivo, quiseram criar um domínio igual no Sul da África.
Quanto às correntes oceânicas que levaram os fenícios, bem como Pedro Álvares Cabral, ao Brasil, “contra a sua vontade”, é preciso destruir essa lenda definitivamente.
Criação artística mostrando um barco fenício navegando.
O capitão do porto de Natal, no Rio Grande do Norte, recebeu no fim do ano de 1926, de um pescador, uma garrafa-correio que continha uma notícia do cruzador inglês Capetown. Essa belonave cruzava a costa ocidental da África e, passando o golfo da Guiné, lançou a garrafa, que chegou, em rápida viagem de seis semanas, à costa do Rio Grande do Norte. As correntes oceânicas que saem da Guiné, rumo ao Brasil, foram conhecidas dos navegadores da antiguidade como na Idade Média. Os fenícios haviam navegado nas costas ocidentais da África, como amigos e aliados dos Tartéssios, já há cem anos, e tiveram conhecimento da existência da “grande ilha” no outro lado do Atlântico. Por isso, procurando as correntes ocidentais, chegaram em poucas semanas à costa brasileira. Pedro Álvares Cabral, o mais nobre navegador da frota do rei Manoel, ele, cujo bisavô já conhecia toda a costa ocidental da África, com todas as suas correntes, aproveitou aquela conhecida estrada marítima para chegar rápida e seguramente à costa do Brasil, da qual já tinha em mão o mapa geográfico.
Reprodução de moeda fenícia mostrando o que parece ser um mapa-múndi com todos os continentes conhecidos atualmente, inclusive a América (ver abaixo o desenho ampliado).
Colocamos o primeiro descobrimento do Brasil no ano 1100 a.C. porque os fenícios ofereceram ao rei Davi da Judéia a aliança para a comum exploração da Amazônia, em 1008 a.C. Os portugueses gastaram para chegar na Bahia ao Maranhão e ao Pará mais de cem anos. Os fenícios fizeram suas operações investigadoras com maior rapidez e conheceram, em poucos decênios, todo o litoral do Brasil, incluindo o grande “rio-mar do Norte”.
Durante o primeiro século da estada dos fenícios no Brasil, deram-se ainda outras ocorrências de grande importância. Já mencionamos a resolução dos tirrênios de mandar uma frota para a mesma “ilha”, quer dizer, ao continente brasileiro. Tirrênios e etruscos são os habitantes da Etrúria, da Itália Superior; foram povos pelasgos de altancultura, conhecidos por suas construções ciclópicas e sua fina arte cerâmica. Na ilha de Marajó mostram os compridos aterros e os antigos muros de pedras “toscas” o sistema do trabalho ciclópico dos etruscos. Mais característicos são ainda os vasos cerâmicos encontrados em Marajó, que revelam claramente a arte e letras do alfabeto dos etruscos. Essa imigração pode ser colocada no espaço de 1080 a 1050 a.C.
Um outro ponto histórico está em relação com a guerra de Tróia, cujo término colocam os antigos historiadores no ano 1181 a.C. É nossa suposição, porém, que aquela época guerreira continuou ainda durante decênios. A luta para ganhar a cabeça da ponte entre Europa e Ásia era uma guerra mundial. Os troianos tinham como aliados mais de 30 povos da Ásia; os agressores gregos tiveram ao seu lado 50 povos e tribos. A guerra quase ficou sem fim e resultado. Tróia foi conquistada e destruída seis vezes, como provaram as escavações. A sétima conquista era definitiva. A guerra estendeu-se sobre a Trácia e Ásia Menor e suas conseqüências foram desastrosas para muitos povos. Os fenícios, que viam nos gregos os seus competidores marítimos e comerciais, estiveram com suas simpatias ao lado dos troianos e prestaram seu auxílio aos vencidos. Diodoro e outros escritores gregos contam que os fenícios levaram milhares de pessoas dos povos vencidos para suas colônias e assim fundaram diversas novas cidades com o nome de Tróia. As mais conhecidas foram Tróia, perto de Veneza, uma Tróia no Lácio, donde nasceu a história de Enéias (1) uma Tróia na Etrúria, que foi chamada também Troila, uma Tróia na costa de Marrocos e uma Tróia na costa atlântica da Ibéria, perto da cidade de Vigo.
No Norte do Brasil ficou a tradição de que a cidade mais antiga dessa região fosse Tutóia, cujo morubixaba era, ainda na chegada dos europeus, o chefe reconhecido do litoral Norte, desde o Rio Grande do Norte até o Pará. O nome antigo foi provavelmente Tur-Tóia, a união dos dois nomes mais ilustres: Tur, a metrópole dos fenícios, e Tróia, o centro heróico da resistência contra os invasores gregos. A cronologia concorda perfeitamente com essa explicação, e a eliminação da consoante r é regra comum na evolução da língua tupi. Os fenícios fundaram mais duas cidades com o nome Tur ou Turo, uma no Rio Grande do Norte, hoje Touros, e uma na Bahia, hoje Torre.
A chegada das Amazonas ao Brasil foi na mesma época. O nome Amazonas, dado para a bacia inferior do grande rio, isto é, a região entre as fozes do rios Xingu e Parintins, é antiga; no tempo da conquista européia assim também chamavam os Tupinambás o curso inferior do mesmo rio, conquanto o seu nome geral fosse Maranhão. A história das Amazonas é um capítulo interessantíssimo da história da Antigüidade. Em geral, só se conhece a aparição dessas guerreiras sob sua rainha Pentesiléia, na guerra troiana, onde a valente mulher desafiou Aquiles, o primeiro herói dos gregos. Mas, a história dessas guerreiras é muito mais antiga. Diversos historiadores opinam que a primeira sociedade de mulheres guerreiras formou-se na cidade Hespera, localizada numa ilha do grande lago Tritonis, na África ocidental. Esse lago era ligado ao Oceano Atlântico por um canal; mas, ao tempo duma grande enchente, entrou o mar pelo a dentro, destruindo a cidade Hespera e obrigando as Amazonas a procurarem uma nova pátria.
Essa narração lembra os cataclismos oceânicos que destruíram a Atlântida; mas, existe também no interior da África Ocidental o grande lago de Tchad, e de lá sai um rio que percorre o país do Dahomé (2), onde hoje ainda vive um povo com mulheres montadas e armadas, as chamadas Amazonas de Dahomé. Muitos escritores viajantes do século passado visitaram e descreveram esse Estado de guerreiras africanas.
Depois da destruição da cidade de Hespera, reuniu a rainha Mirina as sobreviventes e entrou com seu exército no território dos Atlantes, em Marrocos; estes exigiram que as Amazonas entregassem suas armas e se dedicassem ao trabalho agrícola. Mirina recusou-se a essa imposição e venceu-os numa batalha, obrigando-os a fornecer cavalos e víveres às Amazonas. Depois invadiram a Numídia (hoje Algéria), onde existiu, sob a rainha Gorgo, uma outra sociedade de mulheres guerreiras. Mirina venceu Gorgo, a quem também foi imposto fornecer animais, vestidos e víveres. As Amazonas continuaram sua viagem pelo litoral da Líbia até o Egito, onde o Faraó as recebeu com amizade e ofereceu-lhes víveres. De lá passaram à Palestina e à Síria, onde o povo lhes foi hostil, travando-se muitos combates. Os reis fenícios, porém, de Sidon e Tiro, ofereceram a Mirina paz e amizade, as Amazonas ali ficaram algum tempo para repousar das fadigas da longa viagem.
Saindo da Fenícia, passaram as Amazonas para a Ásia Menor, apoderando-se de um território perto do Cáucaso, na atual Armênia. Mirina organizou ali um Estado e governou-o até sua repugnância por um tal estado de tranqüilidade; sempre fizeram invasões e pilhagens no território dos vizinhos, e quando rebentou a guerra troiana, logo resolveram intervir na luta. Depois da morte da rainha Pentesiléia, uma parte das Amazonas voltou à Armênia, as outras erraram e vagabundearam nos países da Ásia Menor, até que os fenícios as convidaram a irem nos seus navios para a Nova Canaã, descoberta por eles no Oceano Atlântico.
Caracteristicamente, tinham as Amazonas, na Armênia, um lago com uma ilha chamada Faro, onde estabeleceram um centro nacional com um pequeno templo, no qual foi sepultada a rainha Mirina. Isso foi sem dúvida em lembrança da sua antiga cidade, Hespera, na ilha do lago Tritonis. No Baixo Amazonas fundaram elas a cidade Faro, e lá existe também o lago, com seu antigo templo, escondido ao meio duma pequena ilha.
__________________________
(1) Essa Tróia é a mais conhecida, arqueologicamente e literariamente, devido à obra Ilíada, o mais antigo poema épico, escrito antes de 750 a.C., atribuído a Homero, em que narra a guerra com os gregos. O herói troiano Enéias, filho de Vênus, escapa com alguns partidários e instala-se no Lácio, dando origem ao povo romano. Entre 1870 a 1890 o arqueólogo Henrich Schiliemann identificou o local da antiga Tróia com a Colina de Hissarlik, descobrindo ali setecidades superpostas (N. do Apres.)
II – AS FROTAS DE HIRÃ E SALOMÃO NO RIO AMAZONAS (993 A 960 a.C.) O tratado de Henrique Onfroy de Thoron sobre o suposto país Ophir, publicado em Manaus, em 1876, e reproduzido em
As Duas Américas, de Cândido Costa, em 1900, é um trabalho completo que acabou com todas as lendas e conjeturas a respeito das misteriosas viagens da frota de Salomão. Thoron sabia latim, grego e hebraico, e conhecia a língua tupi, como também a língua “quíchua”, que é ainda falada nas terras limítrofes entre o Brasil e o Peru. Da bíblia hebraica prova ele, palavra por palavra, que a narração dada no 1o. livro dos Reis, sobre a construção, a saída e viagem da frota dos judeus, junto à frota dos fenícios, refere-se unicamente ao rio Amazonas. (1)
Reprodução artística do Templo de Salomão.
As viagens repetiram-se de três em três anos; as frotas gastaram um ano entre os preparativos e a viagem de ida e volta, e ficaram dois anos no Alto Amazonas, para organizar a procura do ouro e de pedras preciosas. Estabeleceram ali diversas feitorias e colônias, e ensinaram aos indígenas a mineração e lavagem de ouro pelo sistema dos egípcios, descrito por Diodoro, minuciosamente, no 3º livro, cap. 11 e 12. Ali, no Alto Amazonas, exploraram as regiões dos rios Apirá, Paruassu, Parumirim e Tarchicha. No livro dos Reis, da Bíblia, está bem narrado quantos quilos de ouro o rei Salomão recebeu dessas regiões amazônicas.
O mister de nosso trabalho é principalmente a exata historiografia, e por isso devemos acrescentar aqui algumas explicações históricas que não se encontram no trabalho de Thoron. Quando o Brasil era colônia de Portugal, os seus destinos eram dirigidos em Lisboa. Quando chegaram aqui os antigos descobridores, dependeram também, para o desenvolvimento de suas empresas, da situação política dos países do Mediterrâneo. Os fenícios tiveram sempre muitos inimigos que invejavam as suas riquezas; mas, bons diplomatas, com ninguém brigaram, nunca fizeram guerras agressivas e, em toda parte, solicitaram alianças políticas e comerciais. Assim, esse povo pequeno, que nunca foi mais de meio milhão de almas, espalhado sobre centenas de colônias longínquas, pôde conservar, durante dois milênios, um grande domíno marítimo e colonial.
O rei David, dos judeus, havia fundado um poderoso reino, que atingiu seu apogeu no longo governo de Salomão. Os fenícios mostraram-se muito amigos de seu grande vizinho, que lhes forneceu principalmente trabalhadores, que faltavam na Judéia. Ambos os países estiveram também em boas relações com o Egito, onde reinava a dinastia dos Tanitas. Essa “Tríplice Aliança” deu a seus componentes uma certa segurança contra os planos conquistadores dos Assírios, e favoreceu as empresas coloniais, no Atlântico. Mas, em 949 a.C., apoderou-se o chefe dos mercenários líbicos, Chechonk, do governo do Egito e destronou a dinastia dos Tanitas. Esse chefe não era amigo do rei Salomão, tendo este querido repor a dinastia caída. Chechonk vingou-se, incitando Jeroboão a fazer uma revolução contra Salomão, e tornou-se o instigador da divisão do reino judaico em dois Estados. Jeroboão ficou como rei das províncias do Norte e Roboão, filho de Salomão, ficou com Jerusalém e a província da Judéia. Depois, no quinto ano de governo de Roboão, apareceu Chechonk com grandes exércitos na Judéia, sitiou Jerusalém e obrigou Roboão a entregar-lhe quase todos os objetos de ouro do templo. Assim, levou Chechonk a maior parte do ouro que Salomão recebera da Amazônia, além de quatro grandes escudos que pesavam 5 quilos de ouro, cada um, para o Egito. O usurpador mandou colocar no templo de Amon, em Karnac, uma grande lápide, na qual são narrados todos os pormenores dessa guerra contra a Judéia e enumeradas as peças de ouro que o vendedor trouxe para colocá-las nos templos egípcios. Essa lápide ainda hoje existe. (2)
Chechonk, que olhara de mau grado os negócios que haviam feito os fenícios com os judeus, ofereceu àqueles uma sociedade comercial, com o fim da procura de ouro. Assim, apareceram, de 940 a.C. em diante, egípcios no Brasil, chegados nos navios dos fenícios. Foram engenheiros, mestres de obra e trabalhadores de mineração que Chechonk mandou para abrirem minas de ouro no Brasil. (3)
Os maiores compradores de ouro, na antiguidade, eram os egípcios. Nenhum povo desprezou o ouro, mas os egípcios precisavam sempre do duplo e do triplo de que necessitavam os outros. Crentes na ressurreição da carne no dia do juízo final, preparavam-se para poder ingressar na vida futura em boas condições. Tinham artistas que sabiam embalsamar e embelezar os corpos e os rostos dos mortos, de tal maneira que estes apareceriam perfeitos e belos ainda depois de 2 a 3 mil anos, como sabemos do túmulo da rainha Tinhanen. Mas os mortos não apenas queriam permanecer novos e belos; necessitavam também de ouro, prata e pedras preciosas para reaparecerem na vida futura com os meios financeiros que correspondiam às suas posições anteriores. Por esse motivo, não só os reis, altos sacerdotes, nobres e altos funcionários, como também todas as mulheres e os homens menos ricos, juntavam e acumulavam ouro durante sua vida, para ser depositado nos seus túmulos.
Gravura representando o comércio dos fenícios com os egípcios. Uma única restrição devemos fazer às conclusões de Onfroy Thoron. É certo que os judeus fundaram nas regiões do Alto Amazonas algumas colônias, onde negociavam, e ali se mantiveram durante muitos séculos, tendo deixado, indubitavelmente, rastros da civilização e da língua hebraica. Também o nome Solimões, para o curso médio do grande rio, tem a sua origem no nome do rei Salomão, cuja forma popular era sempre “Solimão”. Mas isso não justifica que a antiga língua brasílica, o tupi, fosse muito influenciada pela língua hebraica. O tupi é muito mais antigo e pertence à grande família das línguas pelasgas, que foram faladas em todos os países do litoral mediterrâneo. Os povos da antiga Atlântida falaram essa língua, e a mesma “língua sumérica”, dos antigos babilônios, pertenceu a essa língua gerla, dos cários, respectivamente, dos pelasgos. Os diversos ramos dessa língua diferenciaram-se entre si como, no tempo moderno, as línguas romanas. O laço comum dos povos pelasgos era a organização da ordem sacerdotal dos cários e o comércio marítimo dos fenícios. Os sacerdotes e os mercantes entendiam-se com todos, e por isso formou-se, já no segundo milênio a.C., uma “língua geral”, que foi falada desde a Ásia Menor até a América Central, e deveria ser chamada “pelasgos-tupi”. Essa língua, que os antigos brasileiros chamaram “nhenhen-catu” (o bom andamento), falaram os mercantes fenícios, bem como os sacerdotes (sumés e piagas) dos povos tupis. O hebraico é muito mais novo; quando Moisés apareceu com seu povo em Canaã não trazia ainda uma língua organizada. Os tijolos com os dez mandamentos, recebeu-os Moisés da Caldéia e foram escritos em língua babilônica. Depois, aprenderam os judeus a língua popular dos fenícios e, muito mais tarde, elaboraram os levitas, com os elementos da língua fenícia, uma língua hierática, que ficou chamada “hebraica”. A língua tupi no Brasil não tem ligação com essa formação posterior.
__________________________
(1) É conhecida a grande amizade e forte aliança entre Salomão e Hirã. Além de servir-se Salomão da frota marítima dos fenícios, numa associação de interesses comerciais, recorreu a Hirã, quando da construção de seu templo, tendo o rei de Tiro designado um seu homônimo, o arquiteto Hirã, para comandar os trabalhos da construção do templo. (S. do Apres.)
(2) Um documento assírio do ano 876 a.C. refere-se ao tributo que os habitantes de Tiro eram obrigados a pagar ao seu país para manterem por algum tempo aparente independência: “grande quantidade de ouro, prata, chumbo, bronze e marfim, 35 vasos de bronze, algumas vestimentas de cores vivas e um delfim” (N. do Apres.)
(3) Reportamo-nos à carta de A. Frot mencionada por Braghine (N. 7): “para dar-lhe uma idéia, basta dizer que tenho em mãos a prova da origem dos egípcios; os antepassados desse povo saíram da América do Sul”. Também Thoron é da opinião que egípcios e pelasgos eram procedentes da América, dizendo que a língua quíchua tem muita semelhança com o egípcio antigo, o grego e até com o hindustani. Lembramos também a hipótese de Wegener de que o Ceará e o Saara formaram outrora uma única região, considerando a semelhança das condições geográficas e físicas entre o Estado brasileiro e aquele deserto. (N. do Apres.)
III – A CHEGADA DOS EGÍPCIOS E A IMIGRAÇÃO DOS POVOS TUPIS (940 a 900 a.C.) O segredo do sucesso em todos os grandes empreendimentos humanos está na continuação inalterável dos primeiros
conceitos. Planos efêmeros, hoje iniciados, amanhã alterados, depois interrompidos, novamente recomeçados em outra época, com novos mestres, com outras ambições, nunca terão resultados satisfatórios. Os fenícios foram um povo disciplinado, onde cada qual se submetia ao interesse comum. Uma prática de mil anos os havia educado a todos. O
navegador é um homem calado, o bom comerciante sabe guardar seus segredos. A Fenícia nunca teve reis ambiciosos, nunca teve poetas ou literatos, nem legisladores. Cada qual conhecia o seu dever: era religioso, zeloso no seu trabalho, não conhecia medo, nem do mar, nem dos obstáculos naturais, nem dos inimigos. Venceu sempre pela sua perseverança e pela prudente diplomacia. E nunca faltava-lhe a grande força motriz: o dinheiro. Tais foram os homens que conquistaram o grande Brasil, sem soldados e sem belonaves. Já tinham eles diversas estações e colônias na costa do Nordeste. No Nordeste, no delta do Parnaíba, foi fundada Tutóia; na foz do Amazonas, em Marajó, estava a colônia dos tirrênios; mais acima, andaram as mulheres guerreiras; no alto Amazonas, trabalharam
as colônias hebraicas. A obra já estava bem iniciada quando chegaram os mineiros egípcios à procura dos filões auríferos.
Cinturão de ouro fenício.
Isso não era praticável no litoral; era preciso penetrar o interior, nas regiões montanhosas. Mas, ali estava a população indígena, os povos tapuios da raça malaia. O povo era pacífico e não mostrou hostilidade contra os estrangeiros. No entanto, eles necessitavam de trabalhadores para as suas empresas, e de garantia e segurança para suas
obras. Sem esses meios, a penetração era impossível.
Os fenícios não ficaram muito tempo indecisos. Já conheciam as ilhas da América Central, as Antilhas, quer dizer: “Atlan-tilha” (as pequenas Atlântidas). Mil anos antes de Cristo, essas ilhas eram ainda maiores, e no lugar onde hoje está o Mar das Caraíbas, havia ainda um grande pedaço de terra firme, chamado Caraíba (isto é, terra dos caras ou caris). Nessa Caraíba e nas ilhas em redor viviam naquela época as sete tribos da nação tupi, que foram refugiadas da desmoronada Atlântida. Chamaram-se Caris, e eram ligados aos povos cários, do Mar Mediterrâneo. Os sacerdotes deram-lhe o nome tupi, que significa filho de Tupan.
O país Caraíba, porém, teve a mesma sorte que a Atlântida. Todos os anos desligava-se em pedaços até que desapareceu inteiramente, afundado no mar. Os tupis salvaram-se em pequenos botes, rumando para o continente, onde está hoje a república Venezuela. O nome da capital Caracas prende-se a essa origem. Os fenícios tiveram conhecimento dessa região e resolveram levar os tupis em seus navios para o Norte do Brasil. Quando chegaram os primeiros padres espanhóis na Venezuela, contaram-lhes os piagas aqueles acontecimentos do passado. Disseram que a metade da população das ilhas, ameaçada pelo mar, retirou-se em pequenos navios para a Venezuela, mas que morreram milhares na travessia. A outra metade foi levada em grandes navios para o Sul, onde encontraram terras novas e firmes. Varnhagem, Visconde de Porto Seguro, confirma, na sua História Brasileira, que essa tradição a respeito da emigração dos Caris-Tupis, da Caraíba para o Norte do continente sul-americano, vive ainda entre o povo indígena da Venezuela. O padre Antônio Vieira, o grande apóstolo dos indígenas brasileiros, assevera em diversos pontos de seus livros, que os Tupinambás, como os Tabajaras, contaram-lhe que os povos tupis imigraram para o Norte do Brasil, pelo mar, vindo de um país que não existia mais. Os Tabajaras diziam-se o povo mais antigo do Brasil. Isso quer dizer que eles foram aquela tribo dos tupis que primeiro chegou ao Brasil, e que conservou sempre as suas primeiras sedes entre o rio Parnaíba e a Serra da Ibiapaba. Essa tradição confirma também que a primeira imigração dos tupis passou pela foz do rio Parnaíba. Os tupis, que imigraram mais tarde pela baía de São Marcos e fixaram seu centro na Ilha Tupaon, hoje São Luiz, tornaram-se menos estimados pelos Tabajaras, Potiguares e Cariris. Por isso, aqueles se chamavam orgulhosamente Tupi-nambás, que quer dizer homens da legítima raça tupi. Pagaram o desprezo de parte dos outros tupis, pelo insulto Tupiniquins e Tupinambarana, que quer dizer Tupis de segunda classe. Sempre conservou-se também a tradição de que os tupis tinham sete tribos.
Qual foi o fim desejado pelos fenícios com a imigração dos tupis para o Brasil? Procuravam um povo auxiliador para a sua grande empresa; um povo inteiro que assim identificou os seus interesses nacionais com os interesses da nova pátria. Os outros que chegaram no Mediterrâneo permaneceram sempre estrangeiros; ficaram em relações com sua antiga pátria e pensavam voltar para lá, logo fosse possível. Os tupis não podiam voltar; sua pátria fora vítima do mar.
Procuravam uma nova pátria, uma terra de promissão, destinada para eles por Tupã, como disseram seus sacerdotes. Os fenícios tinham simpatias pelos tupis, que eram da mesma estirpe dos povos cários; entenderam a sua língua geral “do bom andamento”; eram brancos, um pouco amarelados, como todos os povos do Sul da Europa e da Ásia Menor, e tinham uma religião com sacerdotes semelhantes à organização religiosa dos fenícios. Além disso, eram agricultores e tinham um caráter guerreiro. Um tal povo, transferido para o continente brasileiro e nele domiciliado com o auxílio dos fenícios, poderia tornar-se um bom aliado para estes. Os antigos historiadores citam diversos outros exemplos da imigração de povos, com o auxílio e nos navios dos fenícios. Isso foi um dos meios eficazes de que se serviram para segurar suas espalhadas colônias.
As primeiras massas dos emigrantes entraram na foz do Parnaíba, onde Tutóia era porto de recepção. Dividiram-se em três tribos (ou povos) e chamavam-se Tabajaras, entre o Rio Parnaíba e a Serra do Ibiapaba, Potiguares, que se domiciliaram além do rio Poti, e Cariris, que tomaram as terras da Ibiapaba para o nascente. Não é
possível que eles já chegassem com essa distinção de tribos. Os chefes escolheram esses nomes depois da colocação do
emigrantes e delimitação dos respectivos territórios.
Entretanto, escolheram os fenícios um outro ponto de entrada para a segunda onda dos imigrantes. Foi a ilha do Maranhão, um ponto importante para a navegação e para a penetração ao interior. Cinco rios perenes: Muni, Itapecuru, Mearim, Pindaré e Grajaú unem suas fozes em redor da linda ilha e abrem o caminho para o interior. Além disso, foi naquele tempo a baía de São Marcos a embocadura oriental do rio Amazonas, quer dizer, do rio Pará, formado pelos doze rios paraenses, inclusive o Guamá, o Tocantins e o Xingu. Desde a foz desse grande rio até a foz do Mearim,
existiu a “estrada dos furos”, entre a costa do continente e a linha ao longo das ilhas e bancos oceânicos. Mesmo no tempo dos Europeus, existia ainda a passagem pelos furos, desde S. Luiz até Belém, somente interrompida em dois pontos. Por isso, os Tupinambás chamaram Mara-Ion, “o grande rio da terra”, que se estendeu desde a baía da São Marcos até os Andes, no Peru. Mas, é provável que tenham sido os navegadores fenícios os formadores desse nome, que é hoje a denominação do Estado do Maranhão e do curso alto do Amazonas. “Nomina quoque habent sua fata”.
Os fenícios escolheram então a ilha de São Luiz como porto de entrada e iniciaram os alicerces para a cidade, empregando o grande labirinto do sistema pelasgo. Os emigrantes deram à ilha o nome de Tupaon, que significa burgo de Tupan, e nela fundaram numerosas vilas e aldeias, das quais existiam ainda 27 no tempo da chegada dos europeus. Se os Tabajaras duvidaram da descendência legítimo-tupi dos emigrantes da segunda época, foi talvez o motivo dessa dúvida, o fato de que aqueles tupis tinham levado consigo um certo número dos antigos indígenas da Caraíba e das Ilhas, que lhes serviam como trabalhadores. Mas, os emigrantes repeliram qualquer dúvida sobre a pureza de seu sangue tupi e adotaram o nome significativo de Tupinambás, iniciando logo uma política de expansão, sobre a qual falaremos em lugar próprio.
O pagamento para os sacrifícios que fizeram os fenícios com a transferência dos tupis para o Brasil foi o contrato pelo qual se obrigaram estes a fornecer aos fenícios soldados para garantirem e policiarem suas empresas no interior.
Tupigarani significa “guerreiro da raça tupi”. Os padres portugueses escreveram tupi-guarani, mas no nome antigo é garani, derivado da palavra pelasga “garra”, que mudou nas línguas posteriores em guerra pela lei do abrandamento das vogais. Os guaranis nunca foram um povo separado, foram legítimos tupis que andavam armados com as boas armas de bronze que lhes forneceram os fenícios. Por esse contrato ganharam estes um exército aliado, cujo efetivo subiu depois a muitos milhares de guerreiros.
A respeito dos mineiros egípcios que chegaram ao Brasil, deve-se constatar o seguinte: nas lápides, onde são inscritos os acontecimentos do governo do faraó Ramsés III, está narrado que esse rei fundou na sua capital Tebas, em 1170 a.C., uma escola de engenharia e mineração. Dos engenheiros de minas que foram ali instruídos, mandou o faraó uma comissão para diversas regiões da Arábia para explorar as jazidas de lápis-lazuli. Uma outra comissão mandou ele à Etiópia para estudar a explorar todas as minas de ouro que ali existiam. Uma outra comissão foi encarregada de
explorar as minas de cobre de Ataca; outros engenheiros egípcios foram, em navios dos fenícios, para o Sudeste da África e exploraram ali, por conta do faraó, as minas auríferas de Moçambique e do Transval. Assim, não foi coisa extraordinária que cedesse Chechonk aos fenícios engenheiros egípcios para organizarem as empresas de mineração no Brasil.
IV – A PARTICIPAÇÃO DOS CARTAGINESES NA COLONIZAÇÃO DO BRASIL (750 a.C.)
Colocamos a fundação de Cartago no espaço de 850 a.C. a 840 a.C. Em 1240 a.C. foi fundada, no mesmo lugar, a colônia fenícia Birsa, que ficou bem fortificada para poder servir como um ponto estratégico da estrada marítima, que liga a bacia oriental do Mar Mediterrâneo à sua bacia ocidental. Nesse sentido, ganhou a pequena cidade de Birsa uma certa importância no movimento marítimo. No ano 850 a.C., deu-se uma tragédia real de Tiro, mas não conhecemos exatamente nem os fatos, nem os nomes dos implicados. O rei foi assassinado – por instigação de um parente – e a rainha viúva Elisa (ou Dido) refugiou-se, com seus partidários, e com uma grande frota, em Birsa, onde foi construída a grande cidade de Cartago. Não é possível que esse plano nascesse do cérebro de uma mulher. (1)
Foram dois partidos que lutaram entre si violentamente, e o partido vencido ficou obrigado a procurar uma outra cidade, um acontecimento muito comum na história da antiguidade. Neste caso, porém, saíram os dissidentes com o plano de fundar uma nova metrópole, bastante forte para dominar mesmo a antiga pátria. Começou logo o combate entre os dois rivais.
Os cartagineses mandaram emissários a muitos países para juntar operários, colonos e soldados para sua nova capital; os tírios mandaram frotas para impedir esse recrutamento. Mas Cartago cresceu e, para vingar-se dos tírios, o senado cartaginês declarou que não deixaria passar pelo estreito de Gades (Gibraltar), qualquer navio que levasse emigrantes para a grande ilha dos fenícios, no Oceano Atlântico. Isso foi cerca de 820 a.C. Os cartagineses quiseram, principalmente, impedir que os tírios levassem mestres de obras e trabalhadores egípcios para o Brasil e ameaçaram todos esses emigrantes com a pena de morte, no caso de caírem eles em poder dos navios encarregados do policiamento do estreito.
Poucos anos depois, cerca de 810 a.C., organizaram os cartagineses a grande expedição ao golfo de Guiné, sob a chefia de Hannon, sobre a qual já falamos. Foi a orgulhosa tentativa de fundar, no Oceano Atlântico, um domínio colonial ainda maior do que o domínio dos tírios. Essa tentativa fracassou e os cartagineses ficaram desiludidos e desanimados. Mas, finalmente, com o correr do tempo, desapareceram a animosidade e a rivalidade entre os dois irmãos Tiro e Cartago; eles entraram num acordo que estabeleceu um certo condomínio sobre as possessões coloniais das duas
potências. Assim, aparecem de 750 a.C. em diante também os cartagineses no Brasil. Sua estação marítima estava no lago Extremoz, perto de Natal, atual capital do Rio Grande do Norte, o que será explicado no respectivo capítulo.
________________________
(1) A fundação de Cartago é assunto ainda meio nebuloso entre os historiadores. Alguns afirmam que Pigmalião, filho de Bélus, rei de Tiro, e irmão de Elisa (Dido) e de Ana, matou Siquei e provocou a fuga de Dido para o Norte da África, onde fundou Cartago. Outros citam que Pigmalião era rei de Tiro, em 850 a.C., época que Schwennhagen dá como a provável fundação de Cartago. Quanto à Elisa, é tradicionalmente apresentada como a fundadora da cidade, situada a 16 km da atual Túnis, e seu nome vem da palavra fenícia Karthadshat (nova cidade). (N. do Apres.)
V – TESTEMUNHOS LITERÁRIOS DO 4º SÉCULO a.C.
O filósofo grego Platão escreveu o seu diálogo Timeu e Crítias em 380 a.C. Declara ele nesse livro que seu avô Crítias adquiriu um manuscrito do legislador Sólon, no qual este relatou diversas e interessantes notícias geográficas. Disse Sólon que os sábios egípcios lhe explicaram a posição e a história da Atlântida submersa e dos outros países que existem ainda atrás do lugar onde estava a Atlântida. Platão se declara convicto que ao lado ocidental do Oceano Atlântico existisse um grande país. (1)
O filósofo Aristóteles escreveu a sua Geografia cerca de 350 a.C. Nesse livro, ele confirma as notícias de Platão sobre a Atlântida e declara que os fenícios e cartagineses haviam fundado muitas colônias no grande país do Ocidente.
Aristóteles foi o preceptor de Alexandre Magno. É certo que esse sábio ensinou a seu discípulo tudo o que sabia sobre a geografia do nosso planeta, e que o jovem Alexandre esboçou seus grandes projetos de “conquista do mundo” nas doutrinas de seu mestre. Esses planos implicavam também a soberania sobre os mares e sobre as colônias dos fenícios.
___________________________
(1) Assim se refere Alexandre Braghine, em seu O Enigma da Atlântida, à pg. 13, ao diálogo de Platão: “Depois os sacerdotes fizeram saber a Sólon que conheciam a história de Saís, a partir de 8000 anos antes daquela data. ‘Há manuscritos’, disseram-lhe, ‘que contêm o relato de uma guerra que lavrou entre os atenienses e uma poderosa nação que habitava uma ilha de grandes dimensões situada no Oceano Atlântico. Nas proximidades dessa ilha existiam outras e mais além, no extremo do oceano, um grande continente. A ilha chamava-se Posseidonis ou Atlantis, e era governada pelos reis aos quais pertenciam também as ilhas próximas, assim como a Líbia e os países que cercam o mar Tirreno.
Quando se deu a invasão da Europa pelos atlantes, foi a cidade de Atenas, como cabeça de uma liga de cidades gregas, que pelo seu valor, salvou a Grécia do jugo daquele povo. Posteriormente a estes acontecimentos, houve uma tremenda catástrofe: um violento terremoto abalou a terra, que foi logo depois devastada pelas torrentes de chuva. As tropas gregas sucumbiram e a Atlântida foi tragada pelo oceano”.
VI – A DESTRUIÇÃO DE TIRO, EM 332, E A EXPEDIÇÃO DA FROTA DE ALEXANDRE MAGNO PARA A AMÉRICA DO SUL EM 328 a.C.
O ato mais brutal do grande chefe da nação helênica, cuja figura mostra tantos traços de generosidade e magnanimidade, foi a cruel destruição de Tiro e a matança de 8.000 prisioneiros, que se entregaram depois de uma resistência heróica de sete meses, abatidos pela fome e pelos ferimentos. Além disso, Alexandre mandou saquear todas as casas e vender 30.000 mulheres e crianças como escravas. Só deixou, na cidade demolida, alguns velhos, e nomeou um mendigo como rei dos tírios, de nome Abdalonimo, que era vendedor de água nas ruas.
Assim terminou a glória dessa cidade que dominou durante um milênio em todos os mares e contribuiu para a civilização humana. Foi a inata inveja do grego contra o pequeno e tão poderoso competidor comercial e marítimo que impeliu o grande Alexandre a esse ato de brutalidade, que obscureceu o seu retrato histórico, tornando-se a sombra da
sua morte prematura.
Logo depois da queda de Tiro, invadiu Alexandre o Egito, que não fez resistência (331 a.C.). Visitou a capital, Tebas, o afamado templo tríplice de Karnac e o oráculo do deus Amon. Voltando para o mar, escolheu no delta do Nilo o lugar para ser construída ali uma nova capital, que devia trazer seu nome, “Alexandria”, e devia tornar-se a “Rainha dos Mares”, em lugar de Tiro destruída. Nomeou seu general Ptolomeu governador (sátrapa) do Egito, deu-lhe ordem para edificar a nova capital com o maior esplendor, e para construir, depois, uma grande frota. Esta devia procurar e
conquistar o domínio colonial dos fenícios, no Oceano Atlântico.
Alexandre continuou suas conquistas na Ásia; Ptolomeu edificou Alexandria e preparou a grande expedição para o Ocidente. Agora deixemos falar Cândido Costa (nas Duas Américas, pg. 48): “Não há muito, na vila de Dores, em Montevidéu, um fazendeiro descobriu uma lápide sepulcral de tijolos, onde se achavam espadas antigas e um capacete, danificados pela passagem do tempo, e uma jarra de barro, de grande dimensão. Todos estes objetos foram apresentados ao douto padre Martins, o qual conseguiu ler na lápide, em caracteres gregos: ‘Alexandre, filho de Felipe, era rei da Macedônia na olimpíada 113. Nestes lugares Ptolomeu… ‘ Faltava o resto. Numa das espadas se achava gravada certa efígie que parecia ser a de Alexandre, e no capacete se viam esculpidas várias figuras, representando Aquiles arrastando o cadáver de Heitor em roda dos muros de Tróia. Pode-se supor que algum chefe das armadas de Alexandre, levado por alguma tormenta, surgisse ali e marcasse com tal monumento a sua estadia”. Cândido Costa extraiu essa notícia dos jornais de Montevidéu.
Temos aí um dos mais importantes documentos da antiga história do continente sul-americano. É deplorável que o exame da lápide não fosse feito mais minuciosamente, para realçar o seu valor histórico. A olimpíada 113 começou no ano 328 a.C., Ptolomeu já era há três anos governador do Egito, e o texto mutilado começou provavelmente assim: “para estes lugares mandou o sátrapa Ptolomeu uma frota sob o comando de…” O sepulcro era do chefe da expedição, que recebera do próprio Alexandre a espada com a efígie do rei; a ferrugem destruiu as palavras da dedicatória. O capacete foi também um presente do rei. Alexandre sempre levava nas suas viagens um exemplar da Ilíada, de Homero; o seu ídolo foi o herói Aquiles. Apeles deveria pintar para ele o grande quadro, mostrando Aquiles levando arrastado o corpo do chefe dos troianos vencidos, em redor dos muros de Tróia. A mesma cena era gravada no grande capacete, que trazia Alexandre nas duas batalhas decisivas contra os exércitos de Dario. Foi o mesmo elmo, ou foi uma imitação do seu próprio, que deu Alexandre ao seu general, por ele incumbido de conquistar a América do Sul? Indubitavelmente, estava escrito o seu nome na lápide, mas o examinador não o decifrou.
Devemos supor que a frota foi conduzida por práticos fenícios até as costas do Brasil, na altura da foz do rio São Francisco. Ali aportou ela e o chefe foi informado pelos egípcios que no Sul existia mais um grande rio, pelo qual se poderia penetrar no interior do continente. O rio da Prata foi conhecido dos fenícios, como provam as inscrições. A frota grega navegou ao longo da costa, até a foz do grande rio do Sul, onde naufragou, ou pelo menos uma parte, incluído o navio do almirante. Morreram ele e muitos de seus companheiros, o que indica o grande número de armas depositadas no mesmo sepulcro.
Ou travou-se um combate naval com um adversário que tinha também navios armados? Talvez fossem estes os navios dos cartagineses.
Os sobreviventes da frota grega juntaram os corpos dos náufragos, queimaram-nos, recolhendo as suas cinzas na “jarra de grandes dimensões”. Isto também deixa supor que tivessem morrido numerosos guerreiros de alta patente. Soldados e tripulantes comuns não se sepultavam com tais honras. Tumba de Alexandre. Alexandre morreu em 324, provavelmente envenenado por seus generais. Seu vasto império foi dividido entre os seus generais, que logo começaram a guerrear entre si. As notícias a respeito da sorte da expedição atlântica não tinham ainda chegado ao Mediterrâneo. Ptolomeu proclamou-se rei do Egito e devia enfrentar bastante dificuldade para assegurar o seu poder contra as ambições dos outros generais. Não se interessou mais pelas coisas do Oceano Atlântico.
VII – O DOMÍNIO CARTAGINÊS NO BRASIL
Quando o rei Alexandre começou o sítio contra Tiro, mandaram os fenícios navios com muita gente rica, com a mulher e as filhas do rei Straton, com pessoas doentes e com grandes quantidades de ouro e jóias a Cartago, pedindo auxílio contra os agressores. Os sitiados contaram com esse auxílio até o último dia, mas os cartagineses não mandaram nem navios, nem soldados, nem víveres, desculpando-se sob a alegação das grandes lutas que mantinham na Sicília. Depois da queda de Tiro, tomaram eles posse de todas as colônias dos fenícios, na Espanha e nas costas atlântidas. Depois da
morte de Alexandre, tornaram-se os únicos senhores do Oceano Atlântico.
Em 270 a.C. começaram as lutas entre os cartagineses e os romanos, as quais terminaram em 147, com a destruição de Cartago. Nessas guerras sofreram os romanos inumeráveis derrotas, mas venceram pela sua persistência e pelo patriotismo de seus soldados, enquanto os cartagineses enchiam seus exércitos e suas frotas com soldados
estrangeiros e mercenários.
Já em 230 a.C. compreenderam os cartagineses que não poderiam resistir aos romanos, que sempre recomeçaram a guerra com novas forças militares. Por isso, resolveu o senado cartaginês transferir a capital de seu império para as ilhas Macárias, hoje chamadas Canárias. (Os escritores latinos traduziram o nome Macárias erradamente em Fortunatas). Os navegadores da Idade Média mudaram o antigo nome em Canárias).
Os senadores cartagineses, que eram todos comerciantes, capitalistas e proprietários de navios, quiseram salvar o domínio colonial que lhes fornecera as suas riquezas. A ilha, onde está hoje o porto marítimo Las Palmas, conserva diversas inscrições com letras fenícias, escritas no mesmo sistema que as inscrições brasileiras. Quando as Canárias foram colonizadas, nos séculos XIV e XV, pelos portugueses e espanhóis, encontraram eles uma população indígena branca, e na costa, em diversos pontos, erguiam-se seis altas colunas de pedras que serviam de balizas e faróis aos navegadores.
A resolução do senado cartaginês de transferir para essa ilha a sua capital mostra claramente que os cartagineses tinham um intercâmbio permanente com as costas sul-americanas. Os historiadores Tito Lívio e Políbio falavam sobre essa resolução, afirmando que, caso os cartagineses tivessem realmente esse plano, os romanos não poderiam aniquilar o poder deles, pois estes não tinham conhecimento do oceano, nem forças marítimas para dominar regiões tão afastadas.
Diodoro diz que os cartagineses sempre pensaram firmar-se em lugares escondidos e desconhecidos, onde seus inimigos não os pudessem perseguir.
A prudente resolução do partido dos mercantes, porém, não se realizou. Amílcar Barcas, o chefe do partido conservador e militarista, organizou demonstrações populares contra uma tal traição à pátria e a mocidade jurou nos templos defender o solo pátrio até a última gota de sangue. Amílcar prometeu organizar, na Espanha, um novo poder militar, suficiente para enfrentar todas as ameaças dos romanos. As guerras continuaram e Cartago caiu, não sem própria culpa, em 147 antes de Cristo
VIII – AS RELAÇÕES CORTADAS
Cortadas as relações marítimas e comerciais entre o mar Mediterrâneo e o Brasil, os fenícios e egípcios, restantes aqui, procuraram outros campos para a sua atividade. Influenciou também o declínio do rendimento das minas de ouro e prata em muitas partes do Brasil. Assim, começou o êxodo dos fenícios para os países do Oeste e do Norte: para a Bolívia, Peru e México. Apolinário Frot descobriu uma inscrição, indicando que um grupo de egípcios subiu o rio Madeira, fundou uma colônia no território boliviano e iniciou ali a exploração de minas de prata.
Outras expedições subiram o Amazonas até os Andes do Peru. A civilização peruana começou no último século antes da era cristã, oito séculos antes da chegada dos Incas, como provou o sábio cearense Domingos Jaguaribe. Outros procuraram, nos navios dos fenícios e cartagineses, as costas da América Central. A civilização mexicana principiou também 100 a.C. O grande calendário solar do antigo México começa com o ano 75 depois de Cristo. Todas as grandes construções, pirâmides, templos, necrópoles e palácios do antigo México manifestam a arte egípcia. Esse
desenvolvimento concorda perfeitamente com os nossos cálculos cronológicos.
Os eruditos romanos da era cristã tiveram também conhecimento do continente americano. O filósofo Sêneca, que morreu em 65 d.C., escreveu: “Sabemos que no Oceano existe um país fértil, que além do Oceano existem outros países e nasce um outro orbe, pois a natureza das coisas em parte nenhuma desaparece”.
IX – AS VIAGENS DO APÓSTOLO SÃO TOMÉ AO BRASIL (50 a 60 D.C.)
Na antiga literatura cristã encontramos a tradição de que o apóstolo São Tomé pregou o Evangelho nas costas e ilhas do Nordeste da África. O nome S. Tomé foi dado àquela ilha, devido à essa tradição. Diz-se que o apóstolo morreu velhíssimo, num país muito longínquo.
Os primeiros padres portugueses que chegaram ao Brasil ouviram dos piagas que já mil anos antes chegara um Sumé que ensinou uma nova religião. Ele fez longas viagens pelo interior e ganhou muitos crentes. O padre Antônio Vieira escreveu muitas vezes estar convencido de que um apóstolo de Cristo já andara no Brasil. Ele pensava que o nome Sumé era uma modificação de Tomé. Isso é um erro; a palavra Sumé, como nome de um alto sacerdote, pertence à antiga pelasga.
Os tupis deram esse nome ao apóstolo para venerá-lo.
Os piagas mostraram aos padres diversos sinais de pés que significaram que ali estivera o Sumé, cercado por seus amigos e adeptos. Tais sinais de pés existem no interior de Alagoas, onde os padres deram ao rio, que passa ali, o nome de S. Tomé. O mesmo sinal existe em Oeiras, no Piauí, e o povo sempre venerou esse sinal, desde a antiguidade.
A forma do pé, gravada numa chapa de pedra, é uma placa comemorativa, usada pelos povos antigos para indicar que naquele lugar esteve um homem que foi um benfeitor do povo. A travessia de S. Tomé pelo Atlântico nada tem de milagrosa. Naquela época, a população das Canárias e das ilhas de Cabo Verde tinha ainda bons conhecimentos do Brasil, e o zeloso apóstolo procurou uma caravela para ir com seus amigos pregar a nova religião aos povos do outro lado do oceano.
X – A NAVEGAÇÃO ÁRABE NOS SÉCULOS II A VII
Nos três primeiros séculos da era cristã dominaram os romanos inteiramente o mar Mediterrâneo. Cada navio que não fosse registrado pela polícia marítima era confiscado, a carga vendida em hasta pública e os tripulantes condenados como piratas. A navegação livre foi expulsa para as costas da África, e um novo centro marítimo formou-se nos mares da Arábia. O patrimônio marítimo dos fenícios passou para os povos da raça árabe.
Esses navegadores percorreram os mares entre as Índias e África do Sul e andaram até a América do Sul. Um sábio sírio que fez viagens pelo Brasil declarou, numa conferência que fez, em 1923, no Maranhão, com diversos professores brasileiros, que na antiga literatura árabe existem muitos documentos sobre as viagens dos navegadores árabes para o Brasil e Chile. Aqueles navios rodearam, nos séculos IV e V, quase todas as costas da América do Sul, e as narrações sobre essas viagens contêm muitas notícias a respeito dos antigos países e povos deste continente. Nos eruditos círculos árabes de Cairo se estuda essa literatura, fazendo-se publicações interessantes sobre esses fatos históricos.
Nós sabemos que Marco Pólo, o único escritor europeu que publicou na Idade Média um livro sobre a geografia marítima, colheu todos os seus conhecimentos nas viagens que fez em navios árabes. Foram então navegadores árabes que contaram a Marco Pólo a existência dos países Catai e Sipanga, nomes até aquele tempo desconhecidos na Europa. Sobre isso falaremos mais tarde; aqui seja somente constatado que esses nomes foram comunicados à posteridade pelos árabes.
XI – A ORIGEM DA “ILHA DAS SETE CIDADES”
Já no tempo do império romano apareceu na nomenclatura geográfica a Insula Septem Civitatum, que significa Ilha dos Sete Povos. No latim, civitas não é cidade, mas a coletividade dos cidadãos. Os escritores romanos chamam um pequeno povo civitas, quase o mesmo a que nós chamamos uma tribo. Na língua portuguesa esqueceu-se a antiga significação e civitas ficou erradamente traduzida como cidade, com o significado de urbe.
O primeiro documento é uma crônica da cidade Porto-Cale (hoje, o Porto), escrita em latim por um padre católico, cerca de 750 d.C. Foi quando os maometanos árabes já haviam destruído (em 711) o império dos Visigodos da Espanha e invadido a Lusitânia. O arcebispo de Porto-Cale recusou submeter-se à dominação dos maometanos e deliberou, com seus co-diocesanos, como fazer para evitar as grandes humilhações dos cristãos. Perante o grande poder dos árabes, que tinham quase a península inteira, surgiu como único meio a emigração. O Porto já possuía naquela época um extenso comércio marítimo e os peritos de navegação declararam ao arcebispo que existia no Oceano Atlântico um grande país a que os pilotos chamavam a “Ilha das Sete Civitates”.
O arcebispo resolveu ir para lá e com mais outros bispos e cônegos. Milhares de fiéis se declararam prontos a acompanhar o corajoso prelado. Juntaram-se 20 veleiros e a expedição saiu em 734, com 5.000 pessoas. A crônica narra que a frota chegou salva no país de seu destino e que muita gente se preparava a seguir para a grande ilha. Outros cronistas narram que a emigração do povo lusitano para a mesma ilha tomou, naquela época, grandes proporções, de maneira que os árabes ficaram muito inquietos com esse acontecimento. Os comerciantes árabes, por esse motivo, armaram uma esquadra, que devia ir para a mesma ilha, e verificar as condições daquele país.
Essas narrações são uma segura indicação de que:
1º) os navegadores ibéricos das costas atlânticas e os navegadores das Canárias e do Cabo Verde sempre guardaram a lembrança do grande país do Ocidente, cujo nome se identificou com o nome da ilha dos sete povos, respectivamente, das sete cidades;
2º) que se realizou, já à época de 700 a 950 anos d.C. uma extensa emigração da Península Ibérica para a América Central e a América do Sul, precedente à chegada dos normandos, noruegueses e irlandeses na América do Norte.
A respeito da expedição do arcebispo de Porto-Cale, não temos provas de que ela chegasse ao Brasil; é possível que ficasse nos Açores ou chegasse a uma ilha das Antilhas, onde se encontrou, no tempo de Colombo, descendentes duma antiga emigração européia. O ponto saliente para as nossas investigações é que, naquela época, a existência da ilha das sete civitates, ou cidades, era conhecida, e que todos os emigrantes só procuraram essa ilha.
Quanto a “cavalaria dos mares”, dirigida pelo Infante Dom Henrique, começou, de 1420 em diante, a procurar novas terras, todos os navegadores buscaram a grande ilha das sete cidades. Muitos voltaram com a nova de ter encontrado a ilha lendária; mesmo à Ilha da Madeira chamaram eles primeiro de “Ilha das Sete Cidades”. Mas, o grande geógrafo e eremita de Sagres sabia bem que essa “Ilha” era um continente. Finalmente, em 1473, chegou em Lisboa o açorense Fernando Telles, mostrou o seu roteiro e apresentou o mapa duma longa costa, com muitas ilhas, furos e rios, declarando que essa costa pertencia à grande ilha das sete cidades. Era a costa do Norte do Brasil, entre Maranhão e Ceará, com o delta do rio Parnaíba. O rei D. Afonso V e a junta dos Matemáticos, presidida por seu filho, o futuro rei D. João II, acharam a descoberta de Fernando Telles muito importante, mas não consentiram que Telles recebesse a reclamada carta de doação para a ilha das Sete Cidades. Uma carta de doação não lhe foi recusada, mas em seu teor ela evitou aquela denominação e falou só de uma grande ilha ocidental que Telles pretendia povoar. Os documentos desses descobrimentos e as cópias das respectivas cartas de doação estão guardados no Arquivo de Tombo, na repartição das ilhas. Foram publicados na ocasião do centenário da independência do Brasil.
Telles, que possuía oito caravelas e cujos pilotos navegaram em redor das ilhas Antilhas, bem como no litoral do Norte do Brasil, não ficou muito satisfeito com o teor da sua carta de doação e, tendo largas relações com o comércio lisbonense, pôde ele influenciar de certo modo o governo. A Junta dos Matemáticos encarregou então o cônego Fernão Martins (ou Fernão Roriz) de escrever uma carta ao geógrafo florentino Toscanelli e consultá-lo a respeito da situação da ilha das sete cidades. A resposta do sábio italiano foi tal que a Junta dos Matemáticos não se apôs mais à entrega a
Fernando Telles da carta de doação para a ilha das sete cidades, em 1476.
O genro de Telles, Fernando Ulmo, que fez depois da morte de seu sogro uma campanha comercial com um cidadão da Madeira de nome Afonso Estreito, e outros sócios, para explorarem a ilha das sete cidades, recebeu em 1485 uma nova carta de doação, na qual o rei se obrigou a fornecer ao donatário navios armados e forças militares para a CONQUISTA DAS ILHAS E TERRAS FIRMES DAS SETE CIDADES. Esse documento, escrito sete anos antes da primeira viagem de Colombo, prova que os “matemáticos” do rei João II sabiam perfeitamente que a chamada ilha das
Sete Cidadse era um CONTINENTE, com ilhas e terras firmes.
XII – O SIPANGA, RESPECTIVAMENTE, CIPANGO, DE MARCO PÓLO E PAULO TOSCANELLI
O veneziano Marco Pólo escreveu seu livro cerca de 1250 d.C. Ele fez viagens ao Oriente durante 20 anos (1230 a 1250) e formou seu conhecimento, a respeito de Catai e Sipanga, pelos navegadores árabes. Estes explicaram a Marco Pólo que esses países eram situados da Arábia para o nascente, mas se poderia alcançá-los também NAVEGANDO PARA O POENTE. Marco Pólo compreendeu bem essa idéia e baseou nela a sua teoria de circunavegação da Terra. Já os navegadores fenícios sabiam que a Terra tem a forma esférica, e os árabes, que navegaram naquela época entre as Índias Orientais e a América do Sul, sabiam que se pode chegar ao Extremo Oriente e às ilhas do Pacífico navegando para Leste, bem como para Oeste. O esperto veneziano, que nem foi geógrafo, nem astrônomo, nem físico como Copérnico e outros, compreendeu o segredo da geografia terrestre e voltou para Europa com a nova teoria: “para ir às Índias, pode-se tomar uma caravela e navegar para o poente”. Os Turcos ameaçaram o caminho terrestre para as Índias; então, o comércio teve um outro caminho mais fácil, mais barato e mais seguro. Aqui está o grande mérito de Marco Pólo e, realmente, seu livro foi a base, não só para a nossa ciência geográfica e astronômica da época da Renascença, mas também para o descobrimento do “Novo Mundo”.
Mas, por outro lado, o livro de Marco Pólo criou também uma grande confusão nas outras noções geográficas.
Ele não sabia a língua dos árabes e entendeu-se com os navegadores por meio de intérpretes que sabiam italiano. Não tinha a menor noção sobre distâncias marítimas, e como os navegadores dissessem que atrás das Índias e das ilhas (quer dizer, Polinésia e Austrália) estava o grande país Catai e atrás dele Sipanga, pensava Marco Pólo que Catai fosse a
China e Sipanga fosse o Japão. Os modernos escritores chineses e japoneses provaram, há muitos anos, que a China nunca teve o nome Catai, nem o Japão o nome Sipanga. No livro de Marco Pólo o último nome não é escrito Sipanga, mas Cipango, diferença que não tem importância.
No italiano sempre se usa a terminação “o” em palavras exóticas, e o “C” no princípio da palavra é errado, pois ninguém disse “Tchipanga”, como se devia pronunciar o nome com o C italiano. Nem a língua japonesa, nem o árabe, nem o tupi possui a consoante “tch”. Podemos, por isso, bem supor que o nome era Sipanga.
Marco Pólo conta que esteve na China, onde foi chanceler e conselheiro íntimo do “Grande Khan da Mongólia”, e acrescenta muitas histórias fantásticas, que os modernos chineses declaram puras invenções. Mas, para lá ele viajou por terra, saindo da Índia; por isso não pôde ele calcular a distância marítima. No Japão, a que ele chama Sipanga ou
Cipango, não esteve, mas declara que essa ilha estava situada longe do Grande Oceano, DEZ MIL MILHAS DISTANTE DO CONTINENTE ASIÁTICO, QUASE NO MEIO ENTRE A ÁSIA E A ÁFRICA.
Esta foi, indubitavelmente, a indicação que Marco Pólo recebeu dos navegadores árabes. No meio, entre as Índias, nas quais contavam-se também as ilhas da Polinésia e África, está a América do Sul, e não o Japão. Assim, confirma Marco Pólo, mesmo contra a sua vontade, a nossa hipótese de que Sipanga era o nome antigo duma parte da
América do Sul, respectivamente do Brasil. E agora Catai. Plínio diz que os Montes Catai são altas montanhas da Sarmenha. Isso é uma noção vaga:
Sarmácia é a grande planície do Norte da Europa e da Sibéria. Lá existe a montanha “Altai”, mas os romanos tinham poucos conhecimentos daquelas regiões. Os navegadores árabes da Idade Média, que andaram no país Catai, não atingiram essas regiões continentais do Norte.
O autor deste tratado viajou no Alto Solimões e nos rios do Acre, no ano de 1910, quando não estudava ainda a antiguidade do Brasil. Ali ele foi informado que as tribos indígenas chamam aquela parte do Brasil de “Catai”. O grande mapa do Acre, organizado por ordem do Governo Federal no tempo das negociações com a Bolívia e Peru, contém
diversos lugares com o nome Catai, conforme as denominações dadas pelos moradores daquela região. A palavra tubi cata-i significa “o grande mato do rio”. Esse rio, respectivamente todos os rios que formam a bacia do Alto Amazonas, vem dos Andes. Por isso, pode-se explicar Catai como o grande país do mato que se estende até as altas “montanhas”. A nossa hipótese é que Sipanga, o país dos sete povos, era o nome dado ao Nordeste do Brasil, até o Pará, enquanto Catai era a denominação do interior da Amazônia, até os Andes.
*******
Toscanelli acrescentou à sua carta, escrita em 1475 ao rei D. Afonso V, um mapa, no qual ele desenhou a posição das ilhas, Antilhas e Sipanga, quase no meio entre a África e a Índia Oriental, com distâncias quase exatas, a respeito das dimensões do Atlântico, mas não conhecia ainda a existência do continente americano. Ele pensava que se pudesse navegar desde o mar Mediterrâneo até o continente da Ásia, numa linha reta, que passava entre as Antilhas e Sipanga, opinando que as ilhas Antilhas fossem uma grande ilha apenas.
Depois disse: “O que vós chamais a Ilha das Sete Cidades é a grande ilha Antilha, que se estende para o Sul, quase até a ilha Sipanga. A distância entre essas duas ilhas é de 2500 espaços, que são iguais a 225 léguas. A ilha Sipanga é a maior ilha que nós conhecemos e é riquíssima em metais e pedras preciosas, assim como em todas as outras riquezas da natureza”.
Toscanelli escreveu essa carta na idade de 73 anos. Era um dos mais instruídos geógrafos do seu tempo. Tinha feito muitas viagens para o Oriente, onde recebeu da parte dos árabes as informações sobre as distâncias marítimas. Ele convenceu-se de que a asserção de Marco Pólo a respeito da identidade de Japão e Sipanga fosse errada e calculou bem que Sipanga estivesse situada no lugar onde está o Norte do Brasil. A distância entre a ilha mais meridional das Antilhas e as Goianas é menor de 225 léguas.
O erro de Toscanelli de que as Antilhas fossem uma única ilha é sem importância. Se ele tivesse sabido que as Antilhas são um grande grupo de ilhas não poderia identificá-las com a ilha das Sete Cidades. Em todo caso, a Junta dos Matemáticos de Lisboa tirou da carta do geógrafo florentino a confirmação de que Sipanga seja um continente, como indicou o mapa de Fernando Telles. A costa, com embocaduras de grandes rios, não podia ser a duma ilha.
*******
A lista dos fatos acima enumerados forma a grande moldura histórica, dentro da qual desenvolveu-se a antiguidade do Brasil. Examinaremos agora os acontecimentos que se desenrolaram no próprio solo brasileiro.
Capítulo III – ORIGEM, LÍNGUA E RELIGIÃO DOS POVOS TUPIS
A cronologia dos fatos históricos dada no capítulo precedente contém um ponto que o historiador não pode sustentar por documentos irrefutáveis. Isso é a teoria de Vernhagen e dos padres espanhóis, que opinaram que os Tupis e Caris saíram das ilhas caraíbicas para a Venezuela e o Norte do Brasil. Outros escritores brasileiros apresentaram diversas conjeturas, de que os Tupis tiveram suas sedes originais no planalto da Bolívia ou nos pendores dos Andes, de onde chegaram, depois de longas migrações, às costas brasileiras. O autor deste tratado nunca pôde suprimir suas dúvidas a respeito dessas teorias; mas, por recomendação dum amigo culto e zeloso colaborador de minhas investigações, adotei a opinião da emigração dos Tupis da parte das ilhas caraíbicas. Novas indagações, porém, me obrigaram a abandonar definitivamente a teoria da origem brasileira, respectivamente americana, dos Tupis, e declaro agora com plena convicção o seguinte: TUPI é o nome coletivo de
todos que adoraram Tupan como Deus supremo e único, significando a palavra: “filho ou crente de Tupã”.
A religião tupi apareceu no Norte do Brasil, na época de 1050 a 1000 anos antes de Cristo, simultaneamente com os fenícios. Essa religião foi propagada por sacerdotes cários, emissários da ordem dos piagas, sob a direção dum chefe- sacerdote chamado SUMER, qual nome mudou, pelo abrandamento da letra R em SUMÉ.
A língua tupi é um ramo da língua sumérica, formada e falada pela Ordem dos Magos, na Caldéia, desde os tempos do rei Urgana, isto é, 4.000 anos antes de Cristo. O Sumer, chefe espiritual da nação, era o mestre supremo da legítima e sagrada religião, por isso chamada “língua sumérica”. Os primeiros documentos escritos, os quais possuímos e que são guardados no Museu Britânico de Londres, são leis do rei Urgana, escritas em placas de barro queimado, assinadas pelo mesmo rei. O texto dessas leis contém dúzias de palavras tupi. O teor da primeira lei assim começa: JÂR URGANA, AGAD TE SUMERMURU… JÂR significa: senhor, rei, chefe temporal. No tupi temos a mesma palavra: TABA-JARAS: senhores da tabas: GOIA-JARAS: senhores dos Goias. Na Pérsia ficou sempre esse título: JÂR DARIO, até o último SHAR da Pérsia, destronado pelos bolchevistas. O TSAR da Rússia tinha o mesmo título. AGAD é o nosso AGATU ou ACATU: bom; do grego AGATHOS. No título do rei Urgana significa AGAD: majestade. A conjunção TE é igual nas línguas antigas: no grego ET, no latim TE, no tupi ITÉ, como em ITA-ITÉ (pedras), batur-ité (montes altos). (Nas antigas línguas formou-se o plural pelo sufixo TE, como se diz: uma pedra e mais uma pedra).
SUMER, no título do rei Urgana, significa que aquele monarca reuniu na sua pessoa o poder temporal com o poder espiritual, quer dizer, foi rei e simultaneamente chefe da ordem dos Magos. Na história da Babilônia encontram-se muitos casos, em que os chefes da Ordem estiveram em oposição contra as dinastias. Por esse motivo assumiram alguns reis também o cargo de Sumer. De outro lado, arrogaram às vezes chefes da Ordem honras de realeza, como aqueles três Magos que visitaram o menino Jesus denominaram-se REIS.
MU significa na lei de Urgana “construiu”. Segue a lista dos templos, palácios, edifícios e canais que o rei mandara construir. No tupi temos o mesmo verbo; CARAMURU é o mestre de obras da escola dos Cários. Da mesma origem são, no latim, as palavras MURUS e MURARE; no germano, MAUER e MAUERU; no alemão do baixo, MUR e MUREN.
Esse exemplo de parentesco entre a língua tupi e a antiqüíssima língua sumérica abre-nos uma vista clara na antiguidade brasileira. Os piagas trouxeram para cá a língua da sua ordem, ampliaram-na pelos vocábulos das línguas indígenas tapuias e formaram uma língua geral, o NHENHEN-GATU, que significa “o bom andamento”, e devia diferenciar os educados e civilizados crentes de Tupan dos silvícolas tapuias.
*******
Na época de 1800 a 1700 anos a. C. saiu da Caldéia, como emissário da Ordem dos Magos, o progenitor, respectivamente organizador e legislador dos povos cários, chamado K. A. R. Esse nome é uma fórmula cabalística, cuja significação pertencia aos segredos da Ordem. Car fundou a confederação dos povos cários com a capital Hali-Kar- Nassos (Jardim Sagrado de Car), na ponta de sudoeste da península da Ásia Menor. Heródoto nasceu na mesma cidade e deixou-nos, na sua “história universal”, os traços principais da vida e da grande obra civilizadora de Car.
A religião, propagada por Car, era baseada na crença a um Deus onipotente, a quem ele chamou P. A. N., também uma palavra cabalística, que significa “Senhor do Universo”. Dois séculos depois pregou Moisés a mesma crença a um Deus onipotente, a quem ele chamou Je-oh-va. O nome Pan, com o significado de Senhor, ficou nos países orientais em todos os tempos. Alexandre Magno foi chamado na Ásia “O Pany Alexandros”. Na Tchecoslováquia, na Polônia, na Rússia e em outros países usa-se ainda hoje PANE e PANJE como elocução. “Pane Antony” é igual ao “Sir Antonio”. Note-se também que a palavra PANIS (nosso pão) vem de Pan: a dádiva de Deus.
TU-PAN, o Deus onipotente na religião dos antigos brasileiros, significa: “Adorado Pan”. Na língua dos Cários, Fenícios e Pelastos significa o substantivo THUS, THUR (respectivamente TUS, TUR e TU): “sacrifício da devoção” ou “incenso”. Tudo que o homem oferece a Deus é, na língua da ordem dos sacerdotes cários, T. U., também uma fórmula cabalística. O infinito do verbo “sacrificar” é, no fenício: TU-AN; no germano, TU-EN; no grego, THU-EIN e THY-EIN; no latim, TU-ERI (venerar, contemplar, olhar, guardar). THUS, também no latim, é o incenso que se oferece a Deus, respectivamente aos deuses. A origem de TUPAN, como nome do Deus onipotente, recua à religião monoteísta de Car.
O caráter do monoteísmo não fica alterado, pela circunstância de que a religião de Car reconheceu também uma divindade feminina, como a religião cristã-católica adora a Nossa Senhora. Na Ásia Menor foi adorada, como madre de Deus, a divindade Kybele (ou Cibele), como diversos outros nomes locais. Entre estes nomes encontram-se TU-PANA e TU-KERA. O nome da deusa Ceres foi escrito no latim arcaico CAERES e KAERES, cujo nome é uma forma feminina de KAR. Outras formas femininas são KARMOSA, KARMINA, KAERMONA, KAERIMONA e CAERIMONA, donde vem nossa palavra “cerimônia”, que significava antigamente: “o altivo gesto da sacerdotisa de Vesta”. A ordem das Vestais era uma filial da ordem das CARIÁTIDES, cuja primeira chefina foi Caria, filha de Car.
Vestígios dessa crença encontramos na região e língua tupi. Os primeiros evangelizadores do Brasil, padres católicos, que indagaram, nas suas conferências com os piagas (respectivamente, pagés) e com os principais das tribos indígenas, das crenças e noções religiosas dos Tupis, encontraram as seguintes palavras:
1º) Com o nome TUPAN veneraram os Tupis o único e onipotente Deus, como criador e governador do mundo;
2º) Pelo nome TUPANA indicaram os Tupis a força divina e criadora, exatamente como se chamava a deusa Cibele.
3º) A palavra TUPAN-KERE-TAN, explicam os padres Manoel da Nóbrega e Anchieta, conforme as interpretações dadas pelos pagés, como “terra da madre de Deus”. Não tendo a língua portuguesa a letra K, escreveram os posteriores escritores: TUPAN-CERE-TAN, e traduziram: “terra de Ceres, respectivamente, a mãe da natureza”. O
autor explica a palavra TUPAN-KERE-TAN como “a terra da mãe divina” ou “a mãe divina da terra”. Essa divindade feminina ficou na religião tupi no lugar secundário; mas os padres católicos a identificaram logo com a nossa Senhora.
4º) Existem na língua tupi também os nomes KERINA (escrito também Querina) e KERA-IMA, indubitavelmente derivados de KAERIMONIA, da religião de Car. Os piagas explicaram a palavra como nome da “mulher sem sono, que não dorme e fica vigiando, para ajudar às mulheres doentes, que a chamam”. Outros interpretaram KERIN como a “mãe da água”, que protege a criação de peixe contra aqueles que o envenenam, usando timbó. Os padres denominaram, depois, as mulheres que não pediram o batizado de suas crenças, KERA-IMA, qualificando-as como “adeptas de Kerima”.
*******
Essas quatro palavras da religião tupi apresentam para o historiador e filólogo a prova de que essa religião foi introduzida e propagada no Brasil pelos sacerdotes, respectivamente emissários da ordem de Car, chamados piagas. Antes de explicar o significado desse nome, devemos falar sobre a palavra ABUNA, com a qual chamaram os Tupis os padres da Companhia de Jesus. O padre Antonio Vieira conta-nos como seus amigos indígenas explicaram esse nome:
“Tu és nosso pan (aba) e andas com vestido preto (una)”; então, ABUNA é o padre vestido de preto. Já Vernhagem encontrou na antiga história do Egito a palavra ABUNA como nome dum sacerdote e perguntou se poderia existir entre essa palavra egípcia e a palavra idêntica tupi qualquer relação. Hoje temos uma prova mais simples. Pergunte-se a algum comerciante sírio-fenício residente no Brasil como se chama na Síria um padre. Ele dirá:
“na nossa terra existem duas categorias de sacerdotes. Cada aldeia ou paróquia tem um padre casado, que vive com seus crentes e administra a igreja. Além disso, temos frades, não casados, que fazem viagens e visitam as comunidades dentro e fora da Síria. Eles andam com batinas pretas, compridas, e com cartolas altas, a quem chamamos ABUNA.
Esse é um nome muito antigo”. Não precisamos de mais provas. Era o nome popular dos sacerdotes que acompanharam os antigos navegadores fenícios nas suas viagens longínquas. Esse nome conservou-se no Brasil desde aqueles tempos, da mesma maneira como ficou aqui o nome CARAMANOS para os comerciantes ambulantes do Oriente, hoje modificado na forma popular para CARCAMANOS. O nome oficial dos membros da ordem de Car era PIAGA, como declararam os pagés aos primeiros padres católicos, na Venezuela. P.I.A. é uma palavra cabalística dos Magos e abrange tudo que nós compreendemos na palavra “religião”. A.G.A. é servidor de Deus, trabalhador da fé, guia do povo, ministro de Deus e do rei. Nas línguas fenícia, árabe, turca e grega encontra-se a palavra AGA com aquele significado. AGERE (agir) no latim, como AGEIN, no grego, são derivados; no sânscrito, na Veda, nas línguas germânicas e célticas existe a mesma palavra (ACKREN).
Conhecemos centenas de nomes compostos com AGA (Agamenon, Agamedes, Aganipa, Agatussa, etc.). AGATHOS (grego) e AGATU (tupi) significam “bom”.
PIAGA significa “propagador de religião”. No tupi encontramos PIA para coração, bom andamento, caridade e obediência. O mesmo significado tem a palavra PIA nas línguas fenício-pelasgas. No grego mudou o P em B: BIA é a força moral e física, BIOS é a vida, movida pelo coração. No latim temos: PIA, PIUS, PIARE, PIETAS (piedade) e muitos compostos.
*******
TUPI não pode ter outro significado que “filho ou crente de Tupã”. – “Povos tupis” foram todos eles que adotaram a religião tupi.
TUPI-NAMBÁ era o varão legítimo tupi. TUPI-GARANI era o guerreiro tupi. TUPI-NAÉS, TUPI-NIKIM e TUPI-NAKI eram parentes, respectivamente sócios dos tupis. TUPI-NAMBARANA eram tupis afiliados, mas não legítimos. TUPI-RETANA é a terra ou região onde moram tupis.
A respeito da religião tupi devo acrescentar ainda algumas explicações. O padre Claude d’Abbeville, um dos fundadores da cidade de São Luiz do Maranhão, que esteve na ilha de São Luiz durante um ano (1612 a 1613) e escreveu seu afamado livro sobre as 27 aldeias dos Tupinambás daquela ilha, confirmou em cada página do seu livro que os Tupinambás eram monoteístas. Eles veneraram (não adoraram) Tupã como Deus onipotente e supremo, e não
conheceram outros deuses. Nem a divindade feminina influía no pensamento religioso do povo. O padre e seus três colegas da ordem dos franciscanos, Ives d’Evreux, Arnenio de Paris e Ambrosio de Amiens, todos homens de alta cultura, conversaram diariamente com os chefes das aldeias, com os pagés e mesmo com as mulheres sobre todas as questões da religião e foram surpresos pelo interesse e entendimento que mostraram aqueles supostos selvagens para as discussões religiosas.
Claude d’Abbeville dá-nos o texto de um discurso de Japy Assu, cacique (juiz) da aldeia Juniparão, cujo discurso este proferiu poucas semanas depois da chegada dos franceses, numa grande reunião, à qual assistiram nove chefes e muitos populares. Os padres Daniel de la Touche, Senhor de Ravardière, François de Rasilly e outros franceses já sabiam falar tupi. Mas Japy Assu pediu que o intérprete David Migan traduzisse todas as suas palavras para o francês, de modo que todos compreendessem bem suas idéias e perguntas. O chefe indígena falou devagar e acentuou todas as suas expressões. Falou sobre as aspirações de seu povo, explicou o que ele esperava da parte dos franceses, contou como os portugueses tinham enganado os Tupinambás e discursou, depois, sobre a religião e suas crenças. Disse que os tupinambás sabiam que o “grande Tupã” havia criado o mundo e todos os povos; que Ele mandou o dilúvio para castigar os homens por causa de seus pecados, e que Deus agora tinha enviado os piedosos PAY-ETÉ para tirarem o povo dos Tupinambás da sua ignorância e ensinarem-lhe os verdadeiros mandamentos de Deus. Quem lê hoje esse discurso do tupinambá Japy Assu, julgará, talvez, que seja uma invenção do zeloso padre. Realmente, quando Claude d’Abbeville apresentou, na França, seu livro à Rainha-Regente e ao arcebispo de Paris, declaram todos os críticos que o livro era produto de fantasia, alegando que aqueles “índios selvagens” não poderiam ter tais noções de religião. Por esse motivo foi suprimido o livro, e o padre morreu de desgosto dois anos depois. Ives d’Evreux escreveu a continuação da obra de d’Abbeville, declarando que este não escreveu uma palavra que não fosse aprovada por seus confrades. O livro de d’Evreux foi também suprimido pela censura eclesiástica, pelo mesmo motivo; mas d’Evreux guardou uma cópia e o manuscrito de d’Abbeville. Ambos os livros foram mais tarde publicados, pelos cuidados da ordem dos Franciscanos e, finalmente, traduzidos para o Português, pelo culto maranhense César Marques.
O que mais irritou os incrédulos críticos da corte do rei Luís XIII foi o capítulo do livro de d’Abbeville sobre “a astronomia dos Tupinambás”, que é um documento importantíssimo. O historiador não pode deixar de tirar dessas explicações sobre as noções astronômicas dos antigos brasileiros a prova de que estes foram ensinados por emissários duma ordem, que estava em ligação com os sábios da Caldéia. A “astronomia dos tupinambás”, descrita por Claude d’Abbeville, mostra claramente os traços da astronomia da Ordem dos Magos.
A religião de Car, propagada pelos piagas, era puramente monoteísta; era precessora da religião monoteísta de Moisés, a qual ficou sendo a base da religião cristã. Os piagas que chegaram ao Norte do Brasil, na época de mil anos antes de Cristo, introduziram aqui a mesma religião, que se conservou, num estado rudimentar, até a chegada dos padres cristãos. Estude-se com atenção a obra do padre Antonio Vieira, que escreveu com muita convicção: “Aqui já andaram apóstolos do Nosso Senhor, que implantaram na alma deste povo a religião de Deus”.
Os piagas fundaram no Norte do Brasil uma grande escola, como sede da Ordem e centro nacional e religioso dos “povos tupis”; denominaram esse lugar de PIAGUIA, de onde formou-se o nome Piauí. O lugar mesmo, o grande “Car-nutum brasileiro”, eram as “SETE CIDADES”, como será demonstrado nos capítulos posteriores.
Capítulo IV- A IMIGRAÇÃO DOS CÁRIOS AO BRASIL – 1100 a 700 A.C.
Os conquistadores europeus encontraram no Brasil numerosas populações que se chamaram: CARA, CARARA, CARU, CARI, CAIRARI, CARAHI, CARAHIBA, CARYO e CARIBOCA.
Na língua tupi têm os nomes dos povos a mesma forma no singular como no plural. Diz-se: eu sou CARA; nós somos CARA. O mesmo costume encontra-se no Inglês, onde se diz: they are IRISH, DUTCH, etc. (são irlandeses, alemães, holandeses, etc.). A mesma regra existia nas antigas línguas fenício-pelasgas. A língua grega que é mais recente começou a formar o plural pelo sufixo S, cuja regra transferiu-se às línguas romanas. Por isso aplicamos nós como plural as formas: TUPIS, CARAS, CARIS, CÁRIOS, etc., que não corresponde com a língua tupi.
Aos padres portugueses declararam os pagés: CARA, CARI, CÁRIO significa “homem branco”. A cor branca é no tupi: TINGA, também uma palavra pelasga, de cuja raiz vem nossa palavra TINGIR. A palavra tupi tabatinga significa “preparada de cal e argila branca”. Mais tarde transferiu-se o nome tabatinga à argila dessa cor. A palavra OCA significa “casa” qualquer e pertence também às línguas fenício-pelasgas. No grego mudou OKA em OEKA, OIKA, OIKIA; “admiração da casa” é, no grego, OIKO-NOMIA, de onde vem nossa palavra “economia”.
Então a palavra tupi TABATINGA significa “casa branca”; mas CARI-OCA, é “casa dos brancos”, respectivamente dos Cários.
Essa curta explicação lingüística contém a prova de que os “Cários brasileiros” são os descendentes dos homens brancos que imigraram para o Brasil nos navios dos fenícios, na época de 1100 anos a.C. em diante. A pátria desses imigrantes eram os países reunidos na confederação dos povos cários, a qual abrangia quatro divisões:
1º) CARU, que se estendeu desde o promontório Carmel até o monte Tauros; a grande metrópole desse país era a cidade TUR (respectivamente Tiro). Os gregos denominaram esse país Fenícia; hoje é chamado Síria (1).
2º) CARI, que abrangia a costa meridional da Ásia Menor, à qual chamaram os gregos KILIKIA, respectivamente CILICIA. Uma das maiores cidades dessa província era Taba, que nos lembra o TABA-JARAS, que pode significar: senhores de tabas ou cidadãos de Taba. O último significado parece mais razoável. Perto da cidade Taba passa o rio Pinaré, que nos lembra o rio Pinaré (não Pindaré) do Maranhão, onde o lago Maracu mostra ainda hoje as linhas de estejos petrificados, que são os restos dos estaleiros dos fenícios.
3º) CARA ou CARIA, com a esplêndida capital HALI-CAR-NASSOS, cuja situação geográfica rivaliza em beleza com a do Rio de Janeiro, onde os Cários fundaram uma colônia com o nome entusiástico: “Dos Cários Casa” (CARI-OCA). Na placa colossal da rocha, em cima da qual dorme hoje ainda o gigante brasileiro, cravaram aqueles navegantes de Halicarnassos, com letras lapidares, seus nomes e a data da sua chegada.
4º) CARAMANIA foi o vasto “hinterland” que se estendia atrás de Caru e Cari, até o Eufrates. A capital dessa província era Carmana, e de lá vieram os pequenos comerciantes (Caramanos), que se estabeleceram no interior do Brasil. Esses viajaram nos navios dos fenícios; mas esses últimos eram mercadores-capitalistas, que não trataram de comércio retalhista. Eis a origem do nome “Carcamano”.
Amigos e aliados dos Cários eram os reinados Ion e Il-Ion. Os gregos mudaram o nome Ion para Ionia e Ílion era Tróia, como Homero intitulou sua grande epopéia ILÍADA. Iônia abrangia a maior parte da costa ocidental da Ásia Menor e dominava no Mar Egeu; sua antiga capital era Éfeso, um grande empório comercial e artístico.
Ilion-Tróia era a poderosa fortaleza do Noroeste da Ásia Menor, a cabeça de ponte do estreito, que separava o “país dos Asas” dos povos conquistadores do Norte.
A época de Car foi a “idade áurea” da humanidade, glorificada nas poesias épicas e líricas do Oriente. Na confederação cária não reinavam o militarismo e a opressão dos povos fracos. Justiça e intelectualidade eram os princípios governantes; as ciências e artes floresciam, o trabalho industrial e produtivo criou riquezas, a navegação fomentou o intercâmbio econômico e intelectual entre os povos, emissários das ordens e propagadores do alfabeto, das letras e das idéias humanitárias percorriam os países, como narram largamente Diodoro da Sicília e outros historiadores.
Não menos de 72 cidades e vilas foram fundadas com o nome de Car. ARÁBIA FELIZ era uma colônia dos Cários; no Egito nasceu a metrópole Carania, e em Tebas (de 100 bairros!) foi dedicada a Car a “cidade santa” com os suntuosos templos, sob o nome CAR-NAK. Na Frígia, Moesia e Lídia, no Monte Líbano, na ilha de Creta, nas ilhas e costas da Grécia, na Sicília, Itália e Ibéria, foram fundadas, pelos sacerdotes de Car, dúzias de cidades com o nome do grande progenitor. A metrópole do Norte da África era CAR-THAGO; os Druidas da Gália denominavam sua universidade e a sede da ordem: CAR-MUTUM, que quer dizer “aqui interpreta Car as leis divinas”, e deram o mesmo nome CAR-NAK àquele vasto bosque sagrado da Bretanha, onde estão hoje ainda colocados 800 altos dolmens, e onde foram celebrados, na antiguidade, as festas nacionais e religiosas dos gauleses. No Brasil, foram fundados pelos sacerdotes de Car, respectivamente Piagas, diversos lugares sagrados, com o nome CAR-MUTUM, o qual mudou no correr do tempo para CA-NUDO.
A “Idade áurea” da humanidade terminou, como desapareceu o lendário paraíso de Adão. A época da paz foi substituída pela era das invasões e guerras conquistadoras. Saindo da Europa Central, invadiram povos fortes e numerosos, desde 1400 a.C., a península balcânica e se apoderaram progressivamente da Trácia, Macedônia, Tessália e Grécia. De lá eles prepararam seu avanço contras as ilhas e costas da Ásia Menor. O primeiro alvo foi a conquista de Tróia, que lhes vedou a entrada à Ásia. Seis vezes foi conquistada essa cidade; mas sempre uniram-se os povos vizinhos, reconquistaram Tróia e expulsaram os invasores.
Finalmente, os povos gregos organizaram uma grande aliança, sob o comando dos Achajos, convidaram todos os guerreiros de grande nome, e caminharam contra Tróia, dispostos a conquistarem e destruírem definitivamente a grande fortaleza. Foi a guerra mundial da antiguidade. Ao lado dos gregos combateram 54 povos; os Troianos tinham como sócios mais de 40 povos. As valentes Amazonas, sob o comando de sua rainha Pentesiléia, não faltaram. Todas as tribos dos Jônios e Cários, todos os povos do interior da Ásia Menor, mandaram tropas auxiliares, armamentos e víveres, para ajudarem aos Troianos. Dez anos ou mais lutaram os gregos sem resultado. Morreram muitos nobres e heróis de ambos os lados. Mesmo o invencível Aquiles recebeu a flecha mortífera, e a epopéia imortal de Homero não nega que os Troianos e seus sócios opuseram uma resistência heróica aos gregos.
Enfim, estes venceram em 1184 a.C. e Tróia ficou em ruínas quase 3000 anos, até que o entusiasta Schliemann escavou, com mil trabalhadores, a afamada cidade, com o palácio do rei Príamo e com as outras localidades indicadas na ILÍADA, de Homero. Schliemann provou, pelos documentos indeléveis de pedras lavradas, que a guerra de Tróia não foi uma lenda, mas um acontecimento histórico de alta relevância, e hoje sabemos, pelas inscrições nas pedras lavradas do Brasil, que as conseqüências da guerra troiana deram o impulso para o primeiro descobrimento do Brasil e a primeira emigração de povos brancos a este continente.
Os gregos, senhores da passagem dos estreitos e da entrada para o interior da Ásia Menor, ocuparam todo o litoral da Iônia e Cária e todas as ilhas do Mar Egeu, inclusive a grande ilha de Creta. A ilha Kopros (no grego Kipros, no latim Cyprus, no português Chipre) ficou ainda alguns séculos contestada entre os fenícios e os gregos. Assim, o florescente reinado de ION, com Éfeso, Kolofon e muitas outras cidades, e CARIA, com Halicarnassos, Meandro e Rhodo caíram em poder dos gregos e foram helenizados. As populações indígenas foram escravizadas ou expulsas. Isso se deu na época de 1150 a 1000 a.C. e assim começou a época das emigrações dos povos do Mediterrâneo.
Encontramos nas narrações dos antigos escritores muitas informações de que tribos pelasgas e povos cários emigraram da Ásia e da Grécia para a Itália e Ibéria, e mesmo para as costas do Oceano Atlântico.
Depois, os gregos iniciaram sua expansão colonial para Oeste e ocuparam Sicília e o Sul da Itália, desalojando passo a passo os fenícios e suas colônias. Por todos esses motivos transferiram este seu grande movimento marítimo às costas e ilhas atlânticas, e informados pelos Tartéssios e Atlantes sobre a existência duma “ilha enorme”, no outro lado do mar, experimentaram os fenícios a travessia oceânica, desde as ilhas de Cabo Verde para o Nordeste do Brasil, sobre que possuímos o documento histórico de Diodoro da Sicília.
Os fenícios nunca chamaram sua terra de fenícia; o nome era, como já explicamos, CARU PARA O PAÍS, bem como para o povo. Existiam também os nomes Canaã para o litoral e Araméia para a parte montanhosa. O nome Tiro, como apelido, significando “mercadores de tintas da ave fabulosa Fênix” (2). A cidade de Tiro teve 300 tinturarias e fábricas de tintas finas, cujos segredos químicos os gregos nunca descobriram. Na nomenclatura tupi acham-se os nomes Canaã e Aramés; mas em geral encontramos os nomes Cari, Cara e Caru. Caru-tapera, no Maranhão, era um estabelecimento marítimo e comercial dos CARU, entre as fozes dos rios Gurupi e Iriti. Nas margens desses rios exploraram os fenícios as minas auríferas, e a colônia, situada na margem dum canal largo e fundo, que florescia durante muito tempo. Depos, quando os CARU abandonaram a colônia, ficou o nome “Taba dos Caru”, que era Carutapera. Na chegada dos portugueses estava ainda ali uma aldeia de Tupis, que conheciam bem a existência das minas auríferas.
Os Fenícios tiveram um forte interesse para levarem ao Brasil muitos imigrantes. Já falamos no 2o. Capítulo sobre a expedição dos Tirrênios à ilha de Marajó, sobre a aliança do rei Hirã de Tiro com os reis Davi e Salomão, da Judéia, para colonizar e explorar as terras do Alto Amazonas, e sobre a emigração duma parte da nação das Amazonas, com navios dos fenícios. O grande número de emigrantes, porém, saiu dos países cários, inclusive Iônia. Os emigrantes denominaram ION o litoral maranhense, que mostra, com suas centenas de ilhas e penínsulas, uma surpreendente semelhança com o litoral da Iônia asiática: MARAN-ION, que quer dizer “a grande Iônia”. Os Gueges do Piauí têm irmãos do mesmo nome da Ilíria da Península Balcânica; sobre o nome de Taba-Jaras do Norte do Piauí e da Serra da Ibiapaba já falamos; os Poti-Jara, que mudou para Poti-Garas e Poti-Guaras, tiraram seu nome de Poti, que significa na língua pelasga um rio pequeno, respectivamente afluente de um rio grande. Nas regiões dos Cários existem muitos rios de nome Poti. No grego mudou a palavra em Pot-amos. Meso-Potânia é a zona entre os dois POTI:
Eufrates e Tigre. Colônias e vilas dos Cários foram espalhadas sobre todo o território do Brasil; mas a maior parte dos Cários domiciliou-se no interior do Nordeste, entre os rios Tocantins e São Francisco. Nas serras e sertões do Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco formaram os Cari e Cariri uma numerosa população branca, cujos descendentes representam hoje ainda a maioria da população. A raça indígena, legítimo-brasileira, os Tapuias de cor parda e cabelos lisos e pretos, vivia nas regiões dos Cários até a chegada dos portugueses, em malocas, separadas dos brancos Tupis-Caris. À pergunta, como se pede efetuar, mil anos antes da era cristã, a navegação transoceânica, com milhares de emigrantes, responderam já os escritores da antiguidade. Heródoto narra que na ilha de Chipre, na cidade de Car-Passo, existiam oficinas e estaleiros, onde se construía grandes cargueiros com quatro e cinco mastros, que cabiam neles até 800 pessoas. Esses navios levaram em suas viagens grandes tanques de madeira com água doce, e na língua tupi encontramos a palavra CARA-MEQUARA, que significa “um grande tonel para guardar água”, fabricado pelos mestres cários. Plínio conta que no tempo do Império Romano os estaleiros de Carapasso ainda tinham o monopólio de construir aqueles enormes veleiros chamados “carapassios”.
Car foi um gênio universalista. Ele organizou não somente a vida estadual e religiosa; criou também as base seguras da vida social. Criou castas de operários e artistas e fundou escolas para ensinar as artes. “Car-pina” era a arte de lavrar a madeira de pino (em português, pinho). As palavra carpinteiro, caravela, caravana, cardo, cardear, carro,
carrilho, etc., indicam a casta e escola de trabalho de madeira. A casta dos CARA-MURU abrangia os operários de construção de edifícios e da fabricação de bronze, por meio de fogo.
Os pagés brasileiros explicaram o nome caramuru como “homem de fogo”. A casta dos “caristas” era dos artistas, que lavraram pedras e fizeram obras de mármore. A casta dos “car-dapos” era dos farmacêuticos, e a lista dos nomes dos antigos remédios e preparos vegetais e químicos contém centenas de palavras, indicadas pela escola de Car.
Na língua tupi apareceram também centenas dessas palavras, até as fibras de “Caro-até” (e não Coroatá) que usaram e
cardearam as discípulas da “Cária’ para prepararem papel de linho e tecidos finos.
Os mestres cários eram os auxiliares dos navegantes e comerciantes fenícios, e foram eles que organizaram as grandes obras de mineração e da penetração econômica do interior do Brasil, sobre as quais falaremos nos capítulos seguintes. continua no próximo número de Vidhya
__________________
(1) Caindo sob o domínio do Império Romano, a Fenícia foi incorporada à província romana da Síria que, curiosamente, recebeu esse nome pela corruptela da pronúncia grega do nome Tiro. Seus habitantes eram TÍRIOS, por conseguinte SÍRIOS. E a região, Síria, usado até hoje.
(2) O mestre Antenor Nascentes explica o nome Fenício vindo do grego Phoinikeioi, do latim Phoenicios. O termo grego vem de Phoinix, que significa cor vermelha, púrpura. É fato que na cidade de Tiro fabricavam a famosa tinta de púrpura, obtida das glândulas de um marisco chamado murex e usada como corante de tecidos.
VI – O Rio Parnaíba, a Distribuição dos Tupis e a Grande Lagoa Falamos sobre o delta do Parnaíba e a zona do litoral do Piauí; falaremos agora sobre o rio Parnaíba,
propriamente dito, e seus afluentes.
O território dos Tabajaras abrangia a parte setentrional do atual Estado do Piauí, limitado ao Norte pela costa, a Oeste pelo rio Parnaíba, ao Sul pelo rio Poti, e a Leste pela Serra de Ibiapaba, quer dizer, pela linha do alto barranco dessa serra. Este se estende desde a costa, quase em linha reta para o Sul, no comprimento de 400 quilômetros, de maneira que a serra fica ligada, geograficamente, à planície do Parnaíba. As Sete Cidades, chamadas antigamente Piaguí, formam quase o centro desse território, e, conforme o sistema usado no Brasil, como também em outros países, foi dado à região o nome do lugar mais importante. Assim, o “Piauí pré-histórico” tinha uma área muito diferente daquela do Estado atual.
O território além do rio Poti era ocupado pelos Potiguares; mas seria mais exato dizer que aqueles emigrantes pelasgo-cários, que se domiciliaram ao Sul do rio Poti, chamaram-se Potiguares, isto é, Senhores de Poti. Eles estenderam suas sedes, nos séculos seguintes, no rumo do Leste, até o Rio Grande do Norte, e no rumo de Sudoeste, até Pernambuco. Os emigrantes que se colocaram no Ceará, nas serras de Muruoca, Maranguape e Baturité, e aqueles que tomaram posse da grande chapada de Araripe, ficaram com os nomes Caris e Cariris, e estenderam suas sedes, mais
tarde, até às grandes serras da Paraíba.
Os Guegues contentaram-se com o lado oriental do rio, hoje chamado Piauí, embora o lado ocidental do mesmo rio fosse ocupado pelos Tupinambás, que reclamaram um livre acesso para a “Grande Lagoa”.
O Sul do Maranhão pertenceu antigamente a Goiás, isto é, à “Terra dos Goim”. A palavra goi, no plural goim, é de origem fenício-pelasga e significa “gente não civilizada”. A língua hebraica, que é derivada e corrompida do fenício, usa a mesma palavra. Os Hebraicos chamam hoje ainda qualquer pessoa que não seja, conforme sua opinião, tão culta e polida como os Judeus, de “Goi”, no plural “Goim”. – Interpolemos aqui a nota de que da antiga língua pelasgo-fenícia existem ainda quatro línguas derivadas: 1º) O tupi, o nhenhen-gatu do Brasil; 2º) O hebraico, a língua nacional e religiosa dos Judeus de todos os países; 3º) O cuskara, ou língua nacional dos Bascos dos Pirineus; 4º) O albanês, a língua dos antigos Guegues na Península Balcânica.
Os emigrantes que ocuparam o Sudoeste do Piauí, o Sul do Maranhão e o Norte do Estado de Goiás, chamaram- se Goia-jaras, que significa “Senhores da terra dos Goim”. Os chamados “índios brancos” do alto Gurupi e do Rio do Sono, ao Sul de Carolina, são descendentes diretos daqueles emigrantes, que chegaram do Mediterrâneo nos navios dos Fenícios. Isso não exclui o fato de que naquela região vivam hoje também milhares de descendentes dos Goia-jaras, que são brancos e “bem civilizados” brasileiros.
O padre José Moraes, que escreveu, há 180 anos, a história dos Jesuítas que trabalharam na Ibiapaba, no Maranhão e na Amazônia, narra que os Tabajaras declararam aos primeiros padres portugueses que eles mesmos eram os habitantes mais antigos do Norte do Brasil e tinham sempre residido nas terras do Baixo Parnaíba e na Ibiapaba. Tal asserção confirma nossa tese de que a primeira emigração dos Cários foi através do delta do Parnaíba. O fato de que o Brasil já foi habitado por inumeráveis tribos tapuias não influiu no pensamento histórico daquele tempo. Além disso, contaram os Tabajaras que o rio Parnaíba, o qual eles denominaram, no seu curso inferior, Pará do Piaguí, e no seu curso superior Pará dos Tapuias, tinha uma origem numa grande lagoa. Upá assu, onde existiriam as minas de prata e de diamantes.
O cronista Gabriel Soares, que fez em 1587 uma viagem pelas costas do Norte do Brasil, relatou que os Tremembés de Tutóia chamaram o rio Parnaíba de Paraó ou Paragua assu, e falaram também da “Grande Lagoa”, de onde vinha o rio. O nome Parnaíba foi dado ao rio, como opina com muito critério F. A. Pereira da Costa, pelo povoador Domingos Jorge (Velho), que nasceu num povoado chamado Parnaíba de São Paulo. Este, achando que o grande rio do Piauí não tinha um nome certo, deu a ele o nome da sua terra natal, conservando assim a primeira parte do nome antigo e completando-o com o nome daquela localidade paulista.
Por este motivo, a historiografia piauiense não precisa indagar se Parnaíba significa “Paraná ruim” ou “Paraná de terra boa”. Mas, a mesma questão aparece nas duas Paraíbas do Norte e do Sul, e em outros lugares desse nome. Para o geógrafo seria inepto chamar um rio com um curso navegável de quase mil quilômetros, que é uma longa estrada de penetração e de movimento econômico, de “um rio ruim”. Na língua primitiva, também na língua tupi, as palavras iba, yba, hyba, uba, uva, huba e huva têm o significado de “terra boa ou fruta boa”; mas huba e hyba podem também significar “o trabalho pesado de agricultura”, o qual parece ser, para muita gente, um “trabalho ruim”.
********
Gabriel Soares conheceu a história da Upá assu (a Grande Lagoa) já na Bahia e de Sergipe, onde os indígenas contaram que no interior, através de altas serras, existia uma lagoa duma extensão enorme, onde se achavam as grandes minas de prata. Daquela lagoa saíam para Leste dois rios, de nomes Reala e Opala, o último chamado hoje São Francisco. O cronista mesmo não procurou a afamada lagoa e não pôde saber se ela existia na realidade, mas ouvindo que também o rio Parnaíba era um defluente dessa lagoa, não duvidou mais da existência da mesma. Por esse motivo apareceu em diversos mapas do Brasil, desenhados e publicados nos séculos XVII e XVIII, um grande mar interno, que ocupava o vale do curso médio do rio São Francisco.
O sergipano General Ivo do Prado, apresentou ao Congresso Geográfico de Belo Horizonte, em 1919, sobre o “Rio Real”, e sobre as controvérsias de limite entre Sergipe e Bahia, uma longa Memória, na qual ele apurou a questão da Grande Lagoa. Provou, incontestavelmente, que essa lagoa se estendeu desde a cachoeira de Paulo Afonso, até Remanso, com uma largura média de 200 quilômetros. Da lagoa saíam dois rios para o Leste e um para o Norte; mas finalmente recebeu a lagoa pela grande cachoeira uma saída permanente, de maneira que a maior parte dos pântanos e lagos que formavam a “Upá Assu” secou, e ficou somente o leito do São Francisco. O autor, que visitou e examinou minuciosamente aquela cachoeira, que traz o nome curioso dum tal Paulo Afonso, encontrou ali uma obra grandiosa de antigos engenheiros, do sistema de Kar-tum (“Obra de Car!”) do Egito, pelo qual foram derivadas as águas das vastas lagoa da Núbia, com o fim de formarem o majestoso rio Nilo e transformarem os pântanos da Núbia em boa terra de agricultura. O “Kartum brasileiro” é construído por cinco canais simétricos, que despejam suas águas separadamente na mesma cavidade larga, quadrangular, de 50 metros de profundidade, cortada na pedra viva.
Essa queda de água, que deixou para o moderno Brasil uma fonte incalculável de energia mecânica, criou a admirável obra irrigatória do vale Opalino, quer dizer, do Baixo São Francisco, o qual foi chamado por um engenheiro inglês, com muita razão, o “Egito brasileiro”. Essa antiga obra secou a bacia pantanosa da “Grande Lagoa”, fechou com o correr do tempo a saída das águas pelo “Rio Real’, o qual desapareceu, apesar da procura dos comissários dos limites sergipanos-baianos, e prejudicou também o rio Parnaíba, na sua qualidade de grande veia comunicatória entre o Norte e o Centro do Brasil.
Examinando o mapa do Brasil e tirando uma linha da cidade de Remanso para o Norte, no rumo de São João do Piauí, nota-se bem uma faixa, como um corte entre as serras, que fazem o limite entre o Piauí e seus vizinhos Pernambuco e Bahia. Esse corte dava antigamente saída às águas da Grande Lagoa, para o Norte. De lá formou-se, quase em linha reta Sul-Norte, o leito do rio Piauí. Não influi a circunstância de que o braço vindo de S. Raimundo Nonato chamem-se hoje as nascentes do rio Piauí. Enquanto existia a Lagoa, o braço, vindo do Sul, era o rio principal, e o braço de S. Raimundo Nonato era afluente. No ponto de união dos dois braços começou a navegação fluvial de carga pesada, e foi fundada ali uma filial da Ordem, com o mesmo nome Piaguí, que se transferiu também ao rio. Depois da secagem da Lagoa ficou o braço de S. Raimundo Nonato com a maior quantidade de água e, por isso, chamaram os modernos geógrafos a esse braço de “Alto Piauí”. Uma outra filial da Ordem, com o mesmo nome Piaguí era fundada num lugar gigantesco à margem de um lago e de um afluente do Baixo São Francisco, no Estado de Alagoas. Ali também foi transferido ao rio o nome do povoado, cujo nome os geógrafos luso-brasileiros escreveram também com a ortografia do peixe Piau.
A respeito da Grande Lagoa, devemos ainda repetir que esta não era um mar interno, como o Mar Negro ou Mar Cáspio. Era uma vasta região com pântanos e lagos, que enchiam no inverno, inundando tudo. Mas nessa região existem dúzias de serras com alturas de até 300 metros acima do nível do mar. Tais serras formaram as amplas ilhas, dentro da Lagoa, e foi onde acharam, na opinião dos indígenas, os grandes depósitos de prata e pedras preciosas. Quanto ao rio Parnaíba, devemos supor que no tempo da cheia da Lagoa os dois braços do rio, que se unem acima de Amarante, tinham suas quantidades de águas quase iguais, ou o braço da Lagoa era superior. O braço de Goiás, isto é, o Alto Parnaíba de Amarante para cima teve o nome “Paraná dos Tapuias”; o rio unido recebeu, indubitavelmente, pelos navegantes antigos, o nome de “Paraná ou Pará assu”. A respeito do nome do braço da Lagoa, recebeu o autor, de um morador de S. Raimundo Nonato, a informação de que ele tinha ouvido, na sua infância, chamarem de “Upanema”, o braço de S. João do Piauí. Existe no Rio Grande do Norte um rio com esse nome; é um afluente do rio Mossoró, e seu nome foi tirado de uma lagoa que ele forma. Se o rio Piauí tivesse tido, no seu curso superior, o mesmo nome de “Upanema”, seria isso mais uma prova de que o rio Parnaíba tinha, na antigüidade, ligação com a “Grande Lagoa”. No tocante ao nome “Upá assu”, é interessante notar que na antiga Itália, no tempo dos pelasgos, as lagoas pontinas foram chamadas de “Ufá”, e os rios que ligavam essas lagoas eram chamados “Ufaente”.
*******
Mas agora perguntarão meus doutíssimos críticos: em que tempo se deu tudo isso? Baseando-me nas explicações históricas, dadas nos capítulos precedentes, não será difícil responder a essa pergunta. Tróia foi destruída em 1184 a.C. e nos decênios seguintes começou a emigração dos povos cários dos territórios ocupados pelos Gregos. A primeira frota dos Fenícios chegou às costas do Brasil antes de 1100 a.C. Tutóia foi fundada pelos Fenícios e descendentes de Tróia, cerca de 1080 a.C. A colonização das paragens do Baixo Parnaíba e da Serra Ibiapaba começou cerca de 1050 a.C. A subida do rio Parnaíba, em ambos os seus braços, até Goiás e até a Grande Lagoa, realizou-se nos seguintes decênios, de modo que em 1000 a.C. já estava iniciada a exploração das minas, em redor da Lagoa, bem como da Serra dos Dois Irmãos, onde existem mais de cem furnas e grutas da antiga mineração. Podemos bem compreender que naquele tempo o movimento fluvial do Parnaíba já era muito intensivo e essa navegação estava ligada, no inverno, com a navegação da Grande Lagoa.
Essa época do florescimento econômico do Piauí abrangeu cerca de quatro séculos. Afora as empresas de cobre e salitre da Ibiapaba, estabeleceram-se as extensas lavagens de ouro fino na região das “Barras”, as quais são os restos dos antigos açudes, construídos pelas empresas de ouro, ao longo do rio Longá. Da região de Valença, onde existem as afamadas grutas compridas, foram tiradas grandes quantidades de chumbo, prata e, principalmente, salitre. No lado ocidental do Parnaíba, perto de Floriano, existe uma gruta com muitas salas e longos corredores, de onde saem vapores sulfurosos. Os moradores chamam a essa gruta “Boca do Inferno”, e na antigüidade levaram os mineiros dali cargas pesadas de enxofre. Progredindo mais para o Sul, o investigador encontrará, quase em cada serra, buracos, furnas e grutas, com vestígios da antiga mineração, que foram trabalhos de experiência ou de exploração efetiva. O centro das minas argentíferas do Piauí está provavelmente na “Serra do Sumidouro”, assim denominada devido aos numerosos subterrâneos que deixaram ali os antigos exploradores.
Naquela época floresceu Piaguí, como sede da Ordem e centro nacional de todas as tribos tupis do Norte. Tutóia era o grande empório para a exportação de minérios, drogas e madeiras finas. Encontramos também em ambas as margens do rio Parnaíba restos de uma antiga irrigação, no sistema dos trabalhos irrigatórios do Nilo. São canais artificiais que ligam o rio a lagos, formados pelas águas da enchente. No Baixo São Francisco conservou-se até hoje aquela grande obra egípcia; mas também o vale do Parnaíba possui ainda muitos restos valorosos daquele antigo
trabalho, os quais devem ser aproveitados na época atual.
Calculando a época da primeira colonização do Piauí em quatro séculos, chegamos ao ano 600 a.C., quando começou o trabalho do “Kartum brasileiro”, na grande cachoeira, isso é, 2400 anos antes de que andasse ali o suposto descobridor Paulo Afonso. Foi um outro escritor sergipano, Justiniano Melo, quem escreveu um volumoso livro sobre as origens da civilização humana, provando que o “Kartum egípcio” representa um dos maiores pilares do grande edifício civilizador da humanidade. O grandioso plano de cortar quatro extensos e altos muros de rochedos, para criar uma passagem funda e permanente das águas, que inundaram um vasto país e formaram mil lagos e pântanos, só pode ser o resultado do pensamento de um dos primeiros benfeitores do gênero humano. Que força de vontade, quanta energia física e moral foram necessários para executar tão gigantesco projeto! o efeito premeditado foi duplo: Núbia ganhou largas planícies de agricultura, cujas riquezas podemos avaliar pelos suntuosos templos, palácios e enormes muros das cidades núbias, que foram escavadas no século passado. A água derivada formou o vale largo do Nilo, que era antes apenas um estreito rio que secava no verão e se perdia na areia tórrida do deserto.
Justiniano Melo foi um vidente. Era filho daquela região, cuja vida e riqueza são o produto da cachoeira. nas veias desse sergipano corriam ainda algumas gotas de sangue do seu centavô, que foi um dos colonizadores da cachoeira. O cérebro também herdou do seu progenitor algumas partículas daquela força emanatória e translatória que a moderna química chama de “radium”. Assim ele estudou durante 25 anos o problema do Nilo, procurou todas as obras da antigüidade e do tempo moderno sobre Egito, Núbia e as cataratas do Nilo e, finalmente, encontrou a grande verdade: “Kartum foi o portão pelo qual entrou a luz da civilização!”
Nenhum dos teólogos, nenhum dos historiadores e geógrafos pôde dar até agora uma resposta à pergunta de onde chegaram os Egípcios e qual foi a origem da grande civilização do vale do Nilo. Justiniano Melo, o desconhecido pensador e filho do “Egito brasileiro” nos deu a chave desse problema científico. Ele provou que foi um povo de caráter altivo e muito talentoso, que morava na Núbia e organizou ali um centro de trabalho produtivo, abriu as cataratas do Nilo e ocupou gradualmente o vale formado e banhado pelo novo e crescente rio. O pensamento inteiro desse povo era ligado a um fato, o qual Heródoto, depois de uma viagem através desse país, concretizou na frase: Aegyptos dorón esti tou Nilo (O Egito é uma dádiva do Nilo). A primeira ciência dos Egípcios era cuidar que o funcionamento das cataratas sempre continuassem normalmente, sem enchentes desastrosas e sem secas perniciosas. O Faraó Ramsés I mandou construir, dentro da zona das cataratas, a cidade de Kartum (Obra de Car!), onde foi estabelecida uma escola de engenharia hidráulica. Desse instituto saíram os grandes mestres, que inspecionavam continuamente o curso das águas acima das cataratas e do rio, com todos os seus canais, até o Delta.
Alguns desses engenheiros e mestres chegaram, contratados pelos Fenícios, ao Brasil, para dirigirem o trabalho de mineração, nas serras que cercavam a Grande Lagoa. Quem pode estranhar que esses homens, viajando nessa Lagoa e compreendendo suas condições geográficas, logo pensassem na possibilidade de derivar essas massas de água presa e estagnante? Assim, surgiu o plano de cortar, naquele ponto, onde, no tempo da cheia, derramavam as águas do São Francisco, uma passagem funda e uma saída permanente das águas da Lagoa.
O Brasil lucrou enormemente com esse trabalho. O vale inferior do “Rio Opala” tornou-se um celeiro mundial; o vale superior do rio, acima da cachoeira, ficou um “Éden” para uma nova população numerosa, e as estradas de penetração para o interior de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso se abriram. Onde existe, no moderno Brasil, uma obra que pudesse ser comparada com essa obra grandiosa dos primeiros colonizadores do Brasil?
Seja permitido ao autor intercalar, neste ponto, uma curta digressão sobre a primazia civilizatória dos Egípcios. O grão-mestre da historiografia piauiense, dr. Higino Cunha, a denomina “o rochedo de bronze” da história universal; Justiniano Melo contribuiu para essa teoria com um fundamento inteiramente novo. Os assiriólogos provam que a civilização da Caldéia, a fundação da Ordem dos Magos e a construção das primeiras pirâmides no vale do Eufrates recuam a uma época que era quase 1000 anos mais antiga do que o começo da civilização egípcia. A nova teosofia, que possui muitos mestres e adeptos no Brasil, proclama a desmoronada Atlântida como berço da civilização humana.
Todas essas três teorias contêm uma verdade; mas todas as verdades são relativas. o historiador imparcial procurará um ponto intermediário. Aquele povo da Núbia era de raça negra e africana; os egípcios eram bronzeados, com rosto fino, de tupi europeu; seus cabelos pretos eram lisos. Esse povo chegara do Império dos Ashantis, que se estendia da costa ocidental da África até o Lago de Tchad. Desse lago se desliga um rio que se une com o sistema fluvial da Núbia, respectivamente do Alto Nilo. Esse rio foi a estrada da qual migrou aquela parte dos Ashantis para Núbia. Mas quem fundou o Império dos Ashantis, do qual foram encontradas largas ruínas de cidades, no meio de populações negras de baixo grau de cultura? – Foram sobreviventes e emigrados da Atlântida, é o que devemos deduzir de notícias dadas pelo próprio Diodoro. Essa marcha da civilização, bem indicada e marcada pelos documentos de cidades construídas, andou da Atlântida à Senegambia, de lá ao Lago de Tchad à Núbia, e daqui, pelas cataratas do Nilo, para o Egito. Isso se deu no espaço de 4000 a 3000 anos antes de Cristo.
Mas, ao mesmo tempo trabalharam os obreiros da civilização, independentemente da Atlântida, no vale de Eufrates, formando o primeiro Estado organizado, na Caldéia, e construindo os alicerces da religião e das ciências humanísticas pela organização da Ordem dos Magos. Essa sociedade que se tornou modelo e protótipo de todas as religiões, sucessivamente para todos os países do Oriente e do Ocidente, do Norte, do Sul. No vale do Nilo encontraram os iniciados da Ordem os enérgicos e infatigáveis descendentes da Atlântida, e a união das forças físicas e intelectuais deste elemento, com as forças morais e instrutivas dos mestres da Caldéia, formou a civilização egípcia.
Na evolução humana não existe a primazia de um só povo. Todos foram e todos nós somos obreiros da mesma grande obra, à qual contribui cada um, conforme sua própria energia.
*******
No Sul do Piauí existem dois pontos de grande importância histórica. Na estrada que sai da povoação Canto do Buriti para S. Raimundo Nonato, à distância de 15 quilômetros da sede do município, no lugar chamado Pinga, está uma casa de pedras, com aspecto de uma capela ou de antigo templo. Essa casa, a que os moradores chamam “Igrejinha”, é construída no mesmo sistema como todas as casas de pedras da grande estrada de penetração que saiu do litoral do RioGrande do Norte, no rumo do Sudoeste. Nas paredes interiores da “Igrejinha” enxergam-se ainda vestígios de inscrições e pintura; no espaço interior cabem pelo menos cinqüenta pessoas com sua bagagem. A outra casa de pedras acha-se na distância de 22 quilômetros de S. Raimundo para Sul-Sudoeste, numa fazenda chamada “Serra Nova”. Esta casa é um pouco menor; mas sempre cabe vinte pessoas com cavalos. O sistema de construção é o mesmo e os letreiros nas paredes interiores estão bem conservados. Examinando o mapa do Brasil, repara-se logo que essas duas casas de pedras estão na mesma longa linha do Cabo de São Roque ao Sudoeste, e foram indubitavelmente estações da grande estrada.
A distância de 35 quilômetros, entre as duas estações, marca a viagem de um dia, andando com comboio de portadores de carga. Cada estação dessa estrada era provida de água potável e perene, seja por poços artificiais, seja por um poço duma cachoeira ou por um riacho que não secava no verão. Não seria difícil encontrar mais algumas estações, na mesma linha do Sul do Piauí.
Essa estrada dá-nos a prova de que o monopólio piauiense de alcançar a Grande Lagoa e o centro do Brasil, pela subida do rio Parnaíba, não durou muitos séculos. A estrada terrestre abriu outras regiões com largas possibilidades de lucro. Devemos também considerar que a colonização fenícia não foi uma empresa estadual. A Fenícia era uma república composta de pequenos reinados e cidades livres. Tinha sempre ela uma metrópole, quer dizer, uma cidade poderosa, que ocupava a presidência; mas os assuntos da colonização e do comércio marítimo pertenciam às empresas particulares. Cada cidade tinha seus capitalistas e possuidores de caravelas; estes se associavam para iniciarem novas empresas, e entendiam-se com as sociedades coloniais das outras cidades. O segredo do grande sucesso dos Fenícios foi a disciplina usada no seu pensamento e em todas as suas ações. Cada colônia tinha feitorias das sociedades e cidades pátrias; essas eram bem separadas e cada uma respeitava os direitos e empresas da outra. Ninguém pensava em fazer concorrência perniciosa ao outro, ou tentava apoderar-se do produto do trabalho do vizinho. Por isso, encontramos em muitos lugares diversas empresas da mesma categoria, trabalhando com toda harmonia, uma ao lado da outra. As lavagens de ouro fino, nas barras do Longá, foram empresas associadas. A tiragem do salitre (para os embalsamadores egípcios) foi dividida entre dúzias de empresas, nas grutas de Valença, como nas grutas e túneis da Ibiapaba. Na Bahia existem, na região do Rio Salitre, mais de 50 furnas, das quais as companhias fenícias tiravam cargas enormes de “nitinga”, que era o nome tupi dado ao salitre fino e alvo. Todas as companhias eram independentes, mas obedeciam a um plano comum.
*******
Não podemos concluir este capítulo sem tocar na questão de como os Tupis denominaram os minérios e metais. Varnhagen, Couto Magalhães e outros historiadores declararam sem restrição: “os indígenas do Brasil não conheciam o uso dos metais antes da chegada dos Europeus, e a língua tupi não possui vocábulos para os metais”. Essa frase não atinge o problema da mineração. Teodoro Sampaio já explicou que o tupi possui nomes para os minérios, para diversos metais e para um grande número de minerais. Ouro é itayuba (pedra amarela); prata é itatinga (pedra branca); ferro é ita-una (pedra preta); aço é ita-ité (pedra dupla); estanho é ita-jyca; chumbo é ita-membeca; cobre é ita-iqueza; ouro falso (malacacheta ou outra mistura amarela) é ita-yubarana; cristais, diamantes e outras pedras preciosas foram chamados ita-beraba e itatiberaba. Além dessas palavras exisitiam muitos outros nomes populares para diversos minerais. A furna de mineração foi chamada ita-oka.
Mas Teodoro Sampaio opina que esses nomes de metais e minérios seriam formados pelos padres ou pelos bandeirantes portugueses, para explicarem aos indígenas os diversos minérios. Essa opinião é insustentável, pelo motivo de que todos aqueles nomes existiam já antes da chegada dos Europeus, como nomes geográficos, indicando a existência dos respectivos minérios.
O assunto não é difícil de compreender. Os Fenícios procuraram ouro, que só existe em estado puro, e mais outros minérios para seus trabalhos de metalurgia, que não foram executados no Brasil, mas na sua terra pátria. No serviço da procura dos minérios trabalharam mestres e operários, emigrados ao Brasil dos países cários; mas a maioria não precisou aprender os nomes dos metais, usados pelos povos do Mediterrâneo; por isso os mestres cários formaram aqueles nomes como “ita”, que eram fáceis de ser compreendidos. Mas esses nomes conservaram-se na língua tupi, e quando chegaram os Europeus, foram os Tupis que indicaram-lhes a existência e os nomes tupis dos minérios.
by: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:oug6_l3aWoQJ:images.darkchet.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SdKEHAoKCC0AADXfZVU1/Brasil%2520Pre-colombiano%2520refinado2.pdf%3Fkey%3Ddarkchet:journal:117%26nmid%3D222349163+&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESiYHJ3Kvfns1BZ6rgh46aDhr8nwxQNsToK2SDPCrT2Auc0e8G4–XpY9pCJFId6e3XW-6gR9nGz9VXhNsRG9V7MzzDRnH95CZjuljScLRz8XItVXBYqZlfz0qiCOglhZKwerVnw&sig=AHIEtbQbgQ7Ow8Q8Z6ZBNia3cGrAMiz-hQ
fonte: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/fenicios-no-brasil-e-outros-mitos-de-cidades-perdidas/ – Blog: Ensinar História – Joelza Ester Domingues
Um tema recorrente, quando se fala da descoberta do Brasil, é a presença pioneira dos fenícios em terras tupiniquins. Não faltam livros a respeito e muitos com fotografias servindo de provas visuais incontestáveis. Mencionam-se também os vikings, mas os fenícios são mais surpreendentes dada a antiguidade desse povo. Citam-se, ainda, outros navegantes que, há mais de dois mil anos, teriam cruzado o Atlântico e atingido as costas sul-americanas: cartagineses (descendentes dos fenícios), gregos, troianos, saduceus e essênios. Interessante é constatar que foi em meio a esse emaranhado de fantasias que nasceu a pesquisa arqueológica no Brasil. Na mesma época em que o dinamarquês Peter Lund (1801-1880), considerado Pai da Arqueologia e Paleontologia do Brasil, pesquisava fósseis de animais extintos em Lagoa Santa, Minas Gerais, um tal de Onfroy de Thoron escrevia, em 1869, sobre as viagens do rei Salomão, da Judeia, ao rio Amazonas nos anos de 993 a 960 a.C.
A origem desses relatos fantasiosos é muito antiga, remontando a um tempo anterior às grandes navegações. É o caso do mito de Atlântida, contado por Platão, da ilha Tule greco-romana, da ilha Brazil oriunda do imaginário celta, e da lenda das Sete Cidades. As duas últimas alimentaram especulações curiosas envolvendo fenícios, hebreus e “atlântidas” que teriam se refugiado no Brasil. A mítica Ilha Thule ou Tile cercada por monstros, uma baleia e uma orca, Carta marina de Olaus Magnus, de 1537. Em busca de Sete Cidades e da Ilha Brazil A lenda das Sete Cidades foi uma das lendas mais divulgadas na Idade Média. Ela surgiu na Península Ibérica, por volta do século VIII à época da expansão muçulmana. Conta que o arcebispo de Porto Cale (atual cidade do Porto) fugindo dos invasores mouros embarcou rumo ao oeste chegando a uma ilha desconhecida no além-mar, onde fundou uma civilização chamada Sete Cidades. Em outra versão, foi D. Rodrigo, o último rei visigodo, o autor de tal feito.
A lenda popularizou-se e a ilha começou a aparecer nos mapas de navegação em algum ponto do oceano Atlântico como “Insula Septem Civitatum“, que significaria Ilha das Sete Tribos ou Ilha dos Sete Povos. Os mapas traziam, ainda outras ilhas míticas que também povoavam o imaginário europeu: a ilha de Atlântida, mencionada por Platão, a Tule greco-romana e ilha Hy Brazil. A mítica Hy Brazil é uma ilha fantasma que surgia em determinadas circunstâncias para logo ser encoberta e ficar invisível aos olhos humanos. A ilha aparece na cartografia náutica desde o século XIII, ora localizada perto da Irlanda ora no meio do oceano Atlântico. Recebeu diversos nomes, variantes do original: Hy Bressail, Hy Breasil, Hy Breazil, Bracil, Bersil, Brazir, Bracir, Brasil. A origem do nome é celta e significa “ilha afortunada”; mas, como a palavra também está associada à cor vermelha, o nome da ilha também pode significar “descendentes do vermelho” ou “os do vermelho”. A lendária Ilha Brasil (no canto, à direita) mostrada em um mapa da Irlanda, de Abraham Ortelius, 1572. Com o advento das navegações oceânicas e dos descobrimentos multiplicaram-se os relatos de registros visuais das lendárias ilhas e as expedições marítimas para alcançá-las. Foi o caso da expedição do flamengo Ferdinand van Olm (Fernando de Ulmo ou Fernão Dulmo) que, em 1486, teve autorização do rei D. João II, de Portugal, para achar o reino cristão perdido das Sete Cidades. O rei concedeu-lhe, por carta de doação, a capitania da ilha das Sete Cidades e de quaisquer terras que descobrisse a oeste dos Açores. Fernão Dulmo, contudo, nada encontrou.
A ilha Hy Brazil continuou sendo procurada mesmo após a consagração do nome Brasil para o território descoberto por Pedro Alvares Cabral. A ilha mítica permaneceu na cartografia como, por exemplo, no mapa de Fernão Vaz Dourado, de 1568. A “inscrição fenícia” de Pouso Alto No dia 13 de setembro de 1872, o marquês de Sapucaí, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, recebeu uma cópia de inscrições gravadas em uma pedra encontrada em “Pouso Alto”, no vale do Paraíba, por Joaquim Alves da Costa. Elas despertaram grande interesse de Ladislau de Souza Mello Netto. Ladislau Netto era diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Naturais pela Sorbonne. Enviou a transcrição das inscrições para Ernest Renan, especialista em línguas orientais e que realizara escavações na Fenícia. O francês afirmou serem inscrições fenícias, datadas de cerca de 3000 anos. Inscrições de Pouso Alto ou da Pedra da Paraíba, ditas como fenícias. Trata-se, porém, de uma transcrição, não se conhece o original e há dúvidas sobre sua origem e descobridor. É considerada, hoje, uma fraude. Mas logo revelou ser uma grande mentira, a começar pelo local do achado e seu descobridor: o município de Pouso Alto e Joaquim Alves da Costa nunca existiram. Alguém enviou a transcrição de um texto fenício qualquer, dizendo, de má-fé, ter sido encontrado em rochas às margens do rio Paraíba.
O próprio Ladislau Netto reconheceu ter sido vítima de uma fraude e o declarou em um artigo publicado em 8 de junho de 1875 no Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro. Ruínas de cidades fenícias ou formações geológicas? Com o tempo, a falsa Pedra de Pouso Alto ganhou outra localização geográfica. A “Pedra da Paraíba”, como também era chamada (em referência ao rio Paraíba do Sul, onde, supostamente, foi encontrada) acabou sendo identificada com a enigmática e conhecida Itacoatiara de Ingá, na Paraíba. As formações geológicas e as pinturas rupestres do município de Piracuruca, no Piauí (atual Parque Nacional de Sete Cidades) também atiçaram a imaginação de aventureiros alimentando especulações de todo tipo. As primeiras notícias que se tem registradas sobre aquele lugar foram publicadas na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1887 por Tristão de Alencar Araripe, com o título “Cidades petrificadas e inscrições lapidares no Brasil”. Formações geológicas do Parque Nacional de Sete Cidades, no Piauí. O austríaco Ludwig Schwennhagen, professor de História e Filologia, não teve dúvidas: ali estavam as ruínas da fabulosa Sete Cidades, sede do império colonial fenício de além-mar. Schwennhagen percorreu, nas décadas de 1910 e 1920, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba e Pernambuco – onde os sertanejos o conheciam como “Doutor Ludovico Chovenágua”, pela dificuldade de pronunciar seu nome austríaco. Viu nas pinturas rupestres inscrições fenícias e apontou semelhanças entre as línguas indígenas do Brasil e as antigas línguas semíticas. Baseado nessas “provas”, Schwennhagen escreveu o volumoso livro “Antiga História do Brasil de 1100 a.C. a 1500 d.C.”, publicado em Teresina (PI), em 1928. Nele afirma que o litoral do Nordeste, entre o Maranhão e a Bahia, foi ocupado por fenícios e troianos que ali fundaram várias cidades, das quais a mais importante seria Tutóia, no delta do Parnaíba. Pintura rupestre, Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí. Pintura rupestre, Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí. Outras buscas: a bíblica Ophir, a cidade “Z” e a Pedra da Gávea O cônego cearense Raymundo Ulysses de Pennafort trouxe mais argumentos fantasiosos: em seu livro “Brasil Pré-Histórico, memorial encyclographico” (1900, Fortaleza), localizou na Amazônia, o País de Ophir e de Parvaim – ambos mencionados na Bíblia como locais de onde se extraía ouro, prata e madeira para o rei Salomão.
O livro faz um esforço criativo para demonstrar a presença de fenícios, cartagineses, hebreus, gregos, troianos, saduceus e essênios no Brasil A Amazônia também atraiu a atenção do explorador britânico Percy Harrison Fawcett que, em 1906, mapeou a região para a Royal Geographical Society. Entre 1906 e 1924, Fawcett realizou sete expedições em busca de uma cidade perdida que ele chamava de “Z”. Baseado em lendas antigas e registros históricos, ele estava convencido de que essa cidade existia em algum ponto da Serra do Roncador, no Mato Grosso. Ele desapareceu na região do Alto Xingu, em 1925. Por essa época, o estudioso de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, debruçava-se sobre as supostas inscrições da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro e da Pedra Lavrada (Jardim do Seridó, RN). Com conhecimentos de diversas línguas, entre as quais, o hebraico, o sânscrito e o fenício, Silva Ramos interpretou as primeiras como sendo fenícias e as segundas, gregas. Marcas na Pedra da Gávea, Rio de Janeiro que, segundo Silva Ramos, seriam inscrições fenícias. Para os especialistas, são marcas provocadas pela erosão. O mito insiste em renascer Com o avanço dos estudos e a sofisticação das técnicas de pesquisa, as histórias fantasiosas foram caindo no descrédito. A fantástica história da vinda dos fenícios ao Brasil é, hoje, totalmente desacreditada pelos cientistas. Supostas inscrições revelaram ser falsificações ou marcas causadas pela erosão, como é o caso da Pedra da Gávea. Ainda assim, o mito dos fenícios no Brasil renasce periodicamente, como aconteceu na década de 1960 com os orientalistas Cyrus H. Gordon, da Universidade de Brandeis, em Massachusetts, e Alb Van Den Branden, da Universidade St. Espirit Kaslik, no Líbano. Gordon afirmou que judeus, fenícios e outros atravessaram o Atlântico na Antiguidade, chegando tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Seu argumento baseou-se em seu próprio trabalho sobre a inscrição de Bat Creek encontrada no Tennessee em 1889, e na transcrição da suposta inscrição da Pedra da Paraíba, do Brasil. Traduziu essa última afirmando que era fenícia genuína. Mas, como dito anteriormente, trata-se de uma cópia, desconhece-se o original e seu local de origem, portanto, como afirmar sua autenticidade? Nem mesmo a inscrição de Bat Creek resistiu à uma investigação mais cuidadosa: em 2004, descobriu-se que a inscrição fora copiada de um livro maçônico de 1870. Gordon, contudo, não chegou a saber disso, pois falecera anos antes. Inscrição de “Bat Creek”, encontrada no Tennessee, Estados Unidos, e que Cyrus Gordon afirmou ser fenícia. Em 2004, revelou ser uma falsificação. Heranças míticas O que restou de todos esses relatos e buscas está nos nomes de lugares.
O arquipélago de Açores tem um vulcão, um lago e uma freguesia denominados Sete Cidades. Açores tem, ainda, o Monte Brasil e uma das ilhas do arquipélago, a Ilha da Terceira, era denominada Ilha do Brasil pelos cartógrafos genoveses e catalães no século XIV. Nos Açores, sobrevive até nossos dias a lenda da ilha encantada que é avistada apenas por volta do dia de São João (24 de Junho). Na realidade, são comuns, nesse período, os nevoeiros que levam ao fechamento de aeroportos por dias seguidos. As nuvens a emergir no horizonte tomam a forma de uma ilha que os moradores dizem ser Sete Cidades. O Parque Nacional de Sete Cidades, na região norte do Piauí, é uma alusão direta à lenda medieval e às supostas ruínas da sede do império fenício. A lembrança da lendária Hy Brazil é ainda conservada na “Brazil Rock”, um rochedo na extremidade mais oeste da Irlanda. Os pescadores das ilhas Aran, na costa ocidental irlandesa, ainda hoje acreditam que a ilha Brazil se torna visível de sete em sete anos. Finalmente, o nome do Brasil é, indiscutivelmente, herdeiro da mitológica ilha. Para a maioria dos historiadores atuais, é inválida a teoria que a origem do vocábulo estaria ligada ao vermelho do pau-brasil ou ibirapitanga (Caesalpinia echinata). As imponentes rochas do Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí, atiçaram a imaginação de aventureiros e estudiosos que nelas viram as ruínas da lendária Sete Cidades fundada pelos fenícios. Muitos acreditam que o “rosto humano” da Pedra da Gávea e as marcas na outra face foram feitos pelos fenícios. São, na verdade, resultado da erosão.
LOPES, Maria Margareth. O Brasil descobre a pesquisa científica: os museus e as ciências naturais no século XIX. São Paulo: Ed. Hucitec, 1997. pag. 206
MONTEIRO, Fernando. “Seres, Sóis e Sinais”. Revista História Viva, edição 17, São Paulo: Duetto, 2005. BARROS, Eneas. A tese de Ludwig Schwennhagen. Piauí.com.br. Martins, Gabriela. Pré-História do Nordeste do Brasil. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 1996.










![]()